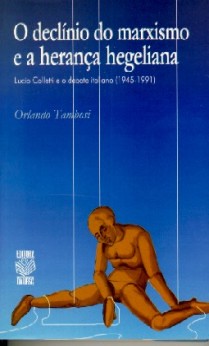"Substituição da representação política, a assembléia foi, como momento decisional e encarnação dos anseios de participação direta, um dos mitos dos anos 60, de início embalados pelos movimentos estudantis. Ocupação de escolas e universidades, contestação dos exames e das próprias lições, análise do estudante como "força de trabalho" - eis alguns dos pontos do 68 italiano e francês: o que não fosse direto era, em definitivo, autoritário.
Jovens intelectuais, sindicalistas e estudantes que exerceriam grande influência nesse período tinham se formado no discurso de revistas e livros radicais dos anos precedentes. Paris, Roma, Milão, Berlim: eram uníssonas as vozes contra o imperialismo, fenômeno internacional que só podia ser combatido pela união dos povos do Terceiro Mundo e dos países de capitalismo avançado. Criar um Vietnã em cada escola, em cada fábrica, mais que um mero slogan, se tornaria uma proposta política. A palavra de ordem era a revolução; seus inspiradores, Che Guevara, Ho-Chi-Min, Mao.
"Criar dois, três, muitos Vietnãs" - era justamente o título do último escrito de Guevara (morto em outubro de 1967 na Bolívia, tentando abrir uma nova frente de luta armada na América Latina). O inimigo era um só: o imperialismo. "Os povos de três continentes" - dizia Guevara - "observam e aprendem a lição do Vietnã.(...) A América, continente esquecido pelas últimas lutas políticas de libertação, terá um confronto muito mais importante: o da criação do segundo e do terceiro Vietnã do mundo.(...) É preciso definitivamente levar em conta que o imperialismo é um sistema mundial, última etapa do Capitalismo, e que é preciso batê-lo num grande combate mundial. O objetivo estratégico dessa luta deve ser a destruição do imperialismo". E conclui o Che: "A parte que nos toca, explorados e subdesenvolvidos do mundo, é a de eliminar as bases de subsistência do imperialismo"[1].
O comunismo, à luz das experiências cubana e chinesa (e das reflexões que sobre elas desenvolveram muitos intelectuais europeus), não era mais apenas um horizonte: parecia um objetivo próximo. Destruição do Estado burguês, superação do parlamentarismo e da democracia representativa, abolição da "divisão do trabalho" - quando não do próprio -, pareciam realizáveis já.
Não demonstrava, a experiência chinesa, a possibilidade de alcançar o "comunismo" também nos países atrasados? Desaparecia assim a diferença entre cidade e campo, trabalho intelectual e manual (não era exemplo disto a transferência em massa dos estudantes às comunas agrícolas?). Caía por terra o "economicismo" soviético. A "revolução cultural" maoísta colocara sob acusação a sociedade industrial. Afirmava-se o primado da Política sobre a Economia: o processo revolucionário era total e ininterrupto. Nada de "reformismo".
Mas o Maio francês não foi apenas um episódio do movimento estudantil. Foi o estopim de uma gigantesca greve geral, envolvendo, além de operários, os técnicos, os funcionários, as classes médias. E, mais que tudo, acendeu novamente as esperanças de uma revolução no Ocidente. A velha teoria do "sujeito revolucionário"[2] deveria, no mínimo, ser revista.
Se o Maio não resultou em nada, isto se devia particularmente ao Partido Comunista Francês. Eram graves as suas responsabilidades: não só renunciara - segundo os movimentos de extrema-esquerda - a dar um sentido revolucionário às lutas, que contavam com a "mobilização espontânea" e a "combatividade" da maioria dos trabalhadores, mas atuara, no fundo, para que De Gaulle retomasse o controle da situação.
Sweezy ilustrou bem, nas páginas da Monthly Review, o pensamento das esquerdas: "Nenhum partido de massa que atue no interior da estrutura das instituições burguesas pode ao mesmo tempo ser revolucionário". Isto porque "aqueles que detêm cargos no Parlamento burguês, nas câmaras municipais, etc., habituam-se a considerar os problemas em termos burgueses; os quadros de partido ganham a vida entrando no jogo das eleições políticas burguesas; os funcionários sindicais e os membros das comissões internas mantêm seus cargos, e seu trabalho é apreciado, na medida em que ajudam os trabalhadores a obter concessões dos capitalistas". Conclusão: um partido desse gênero - "chame-se ele comunista, socialista ou trabalhista - é, por sua própria natureza, não revolucionário e reformista"[3].
Não se deveria, portanto, buscar a causa do comportamento do PCF apenas nos "defeitos da direção" partidária. Os grupos da "Nova Esquerda" já tinham identificado a causa na própria concepção leninista de partido como vanguarda organizada, altamente disciplinada e detentora da "direção revolucionária". Ora, nas novas condições, esse partido não podia - exatamente pelo centralismo e pela rigidez de sua estrutura - desenvolver a função de guia, já que a situação se caracterizava por um alto grau de "espontaneidade" e "criatividade" dos movimentos sociais[4].
Resumindo: a cultura do 68 significou o repúdio do reformismo e a utopia da "regeneração total" da sociedade. Afinal - acreditava-se -, a "revolução cultural" chinesa indicava a possibilidade dessa regeneração hic et nunc. Mas o que essa cultura disseminou com mais força foi uma posição radicalmente anticientífica e antiindustrialista. Não se tratava, por certo, de uma originalidade da "Nova Esquerda". Seus inspiradores haviam desenvolvido esses temas muitos anos antes: a maior parte dos escritos que se tornariam verdadeiros "manifestos filosóficos" dessa cultura surgira, de fato, nos anos 30 e 40. Era o patrimônio da chamada Escola de Frankfurt: Horkheimer, Adorno e, principalmente, Marcuse[5] (um dos três grandes M - como destacava a crônica da época -, junto com Marx e Mao[6]). O leitmotiv era a rejeição da "razão instrumental" e de seu corolário, a "sociedade tecnológica", i. é, a sociedade moderna. A bem da verdade, temas já suscitados por História e consciência de classe, de Lukács (uma obra de 1923, mas traduzida na Itália somente em 67)[7]. "
***
[1]Che Guevara, cit. por S. Dalmasso, Il caso "Manifesto" e il PCI degli anni'60, cit., pág. 44.
[2]Sobre este ponto, ver "Le ideologie dal'68 a oggi", de L. Colletti, in TI, cit., pág. 5 e segs. (O ensaio foi originalmente publicado na obra coletiva Dal'68 a oggi. Come siamo e come eravamo, Roma-Bari, Laterza, 1979).
[3]L. Huberman e P. M. Sweezy, "Riflessioni sul maggio francese", Monthly Review 10(1968), cit. por Colletti, op. cit., pág. 27.
[4]Cf. L. Colletti, ibid., págs. 27-8.
[5]Dialética do Iluminismo, de Adorno/Horkheimer, é de 1947; Razão e revolução, de Marcuse, é de 1941; apenas O homem unidimensional, o célebre livro de Marcuse que obteve sucesso mundial, é mais recente: 1964. (Na Itália, essas obras foram traduzidas justamente nos anos 60).
[6]Cf. L. Colletti, op. cit., pág. 30.
[7]Ver, a propósito deste tema, dois interessantes estudos de G. Bedeschi, que retoma idéias de Colletti: Introduzione a Lukács, e Introduzione alla Scuola di Francoforte, ambos edits. pela Laterza, Roma-Bari, 1982, 2a. ed., e 1987, 2a. ed., respectivamente."
(Trecho do livro O declínio do marxismo e a herança hegeliana, de Orlando Tambosi, Florianópolis, Edit. da UFSC, 1999, págs. 122-126).
21.1.08
Assinar:
Comentários (Atom)