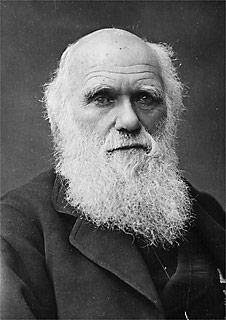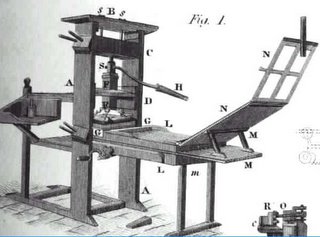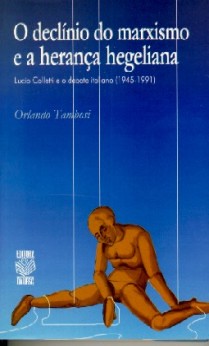Artigo publicado inicialmente na revista eletrônica Crítica, de Lisboa, sob o título "É o conhecimento perigoso? Fronteiras entre ciência, tecnologia e ética."
1. As feridas da modernidade e a anticiência
O traço mais profundo e mais perturbador de nossa época é a dissociação de fato e valor, ser e dever ser, ou física e ética, conhecimento da realidade e atribuição de sentido à vida. As ciências descrevem e conhecem o mundo tal qual é, mas calam sobre as angústias humanas, tornando o homem praticamente um acidente no cosmo. Despertando de seu sonho milenar, como diz o biólogo Monod, o ser humano agora "sabe que, como um cigano, está à margem do Universo onde deve viver. Um Universo surdo à sua música, indiferente às suas esperanças, como a seus sofrimentos ou a seus crimes". Ele sabe que "está sozinho na imensidão indiferente do Universo, de onde emergiu por acaso. Não mais do que seu destino, seu dever não está escrito em lugar algum" (Monod: 1989, p. 190-8).
Através da ciência, a modernidade rompeu a "aliança animística" entre homem e Natureza, calcada exatamente na identificação de fato e valor — fundamento da visão antropocêntrica do mundo. A cosmologia medieval (aristotélico-cristã) realizava a coincidência plena disso que, para nós, é dividido: conhecimento da realidade e compreensão do "sentido" da nossa vida — sua destinação ou valor — eram uma só coisa. Por mais de dois mil anos, a metafísica (o nome remete, como se sabe, ao conhecimento do transcendente ou do supra-sensível) sustentou a separação entre mundo terrestre e mundo celeste: embaixo, o reino do efêmero, do nascer e do perecer; no alto, com suas esferas perfeitas, o reino do divino, do incorruptível, do eterno, do verdadeiro Ser. Os níveis de realidade exprimem ao mesmo tempo uma hierarquia de valores. A Terra, no centro, é o palco em que se desenrola o drama humano, em vista do qual o próprio cosmo foi criado.
A modernidade rompe essa imagem. A revolução astronômica explode esse cosmo finito e fechado, revelando um universo de proporções ilimitadas. A Terra já não é mais o centro de nada. "É um ponto infinitesimal, uma minúscula ilha perdida num oceano sem praias, onde se contam bilhões de galáxias, cada uma delas com centenas de bilhões de sóis. Explicar essa realidade em função do homem, ou dela extrair um significado para a nossa existência, é simplesmente impossível" (Colletti: 1989, p. III-IV, e 1996, p.15).
Depois que Copérnico arrancou o homem do centro do universo, Darwin obrigou-o a reconhecer que não passa de um ser entre outros no reino animal (competindo com as outras espécies e, freqüentemente, perdendo a luta para as mais microscópicas). São duas feridas insanáveis que corroem o narcisismo humano, como definiu Freud, e que produzem mal-estar ainda hoje. Daí a hostilidade em relação às ciências e às tecnologias, comum a algumas vertentes filosóficas e tendências culturais contemporâneas, particularmente as que se autodenominam "pós-modernas". A anticiência, por sinal, encontra confortável abrigo nas ciências sociais e humanidades, minadas pelo relativismo cognitivo e cultural; e, junto com as pseudociências, conta com generoso espaço na mídia.
Muito do que se produz nessas áreas é hostil a conceitos como "realidade", "objetividade", "verdade", fundamentais tanto à ciência quanto ao jornalismo científico. Para a cultura "pós-moderna", o "real", os "fatos" que as ciências buscam conhecer — e o jornalismo reportar — não passam de "construções intelectuais". Mero discurso ou "narrativa", a ciência é ideológica, isto é, instrumento de dominação de uma civilização "branca", "eurocêntrica", "opressora", "machista", "heterossexual" etc. (ver, a respeito, Gross e Levitt: 1998 — livro que inspirou Alan Sokal e Jean Bricmont a escreverem seu Imposturas intelectuais, Rio de Janeiro, Record, 1999, outra consistente denúncia do relativismo e da falta de rigor nas humanidades).
Sob essa bandeira campeiam os multiculturalismos, o social-construtivismo, o ecofeminismo, os estudos culturais, as leituras de "gênero", o ressentimento contra as ciências. Privilegiam-se o intuitivo, o mágico, o místico, o irracional, o marginal, abrindo-se as portas da academia para a New Age, as bruxas, o tarô, o ocultismo, a astrologia — temas freqüentes junto a certos comunicólogos, notadamente os de formação antropológica.
Diante disso, não espanta a condenação, dentro das próprias universidades, não só da ciência e da tecnologia, mas também da racionalidade e da secularização, "desencantadoras do mundo": não por acaso, fenômenos produzidos pela modernidade. Não é o "pós-modernismo" justamente esse conjunto de atitudes estilísticas e julgamentos contrários ao que se supõe ser ou ter sido a modernidade (em especial, ao que ela herdou do Iluminismo)? Não espanta, igualmente, que universidades de prestígio tragam ao Brasil, às custas do dinheiro público, sociólogos delirantes como Jean Baudrillard, que, a cada três meses, vem nos advertir que a realidade não existe.
Afinal, não nos garante essa filosofia de salão chamada relativismo cultural que a ciência não tem mais direito em afirmar a verdade do que o mito tribal?; ou que a ciência é apenas a mitologia adotada por nossa tribo ocidental moderna? Vale lembrar, a propósito, um curioso relato do biólogo Richard Dawkins, hoje professor da cátedra de Compreensão Pública da Ciência em Oxford, cuja obra deve, necessariamente, figurar numa bibliografia de jornalismo científico. Conta ele que, certa vez, respondendo a uma provocação de um colega antropólogo, colocou-lhe a seguinte questão: "Suponha que existe uma tribo que acredita que a Lua é uma cabaça velha lançada aos céus, pendurada fora de alcance um pouco acima do topo das árvores. Você afirma realmente que nossa verdade científica — que afirma que a Lua está a 382 mil quilômetros afastada e tem um quarto do diâmetro da Terra — não é mais verdadeira do que a cabaça da tribo?" A resposta do antropólogo foi direta: "Sim. Nós apenas fomos criados em uma cultura que vê o mundo de um modo científico. Eles foram criados para ver o mundo de outro modo. Nenhum desses modos é mais verdadeiro do que o outro". Conclui Dawkins: "aponte-me um relativista cultural a 10 quilômetros de distância e lhe mostrarei um hipócrita. Aviões construídos de acordo com princípios científicos funcionam. Eles mantêm-se no ar e o levam ao seu destino escolhido. Aviões construídos de acordo com especificações tribais ou mitológicas, tais como os aviões de imitação dos cultos de carregamento nas clareiras das selvas (...), não funcionam. Se você estiver voando para um congresso internacional de antropólogos ou de críticos literários, a razão pela qual você provavelmente chegará lá (...) é que uma multidão de engenheiros ocidentais cientificamente treinados realizou os cálculos corretamente. A ciência ocidental, com base na evidência confiável de que a Lua orbita em torno da Terra a uma distância de 382 mil quilômetros, conseguiu colocar pessoas em sua superfície. A ciência tribal, acreditando que a Lua estava um pouco acima do topo das árvores, nunca chegará a tocá-la, exceto em sonhos" (Dawkins: 1996, p. 39-40).
Se a anticiência, atualmente, procede do circuito Paris-Nova York, de lá se espraiando para outros países, no século XX foi da Alemanha que partiram os ataques mais fortes e duradouros. Os precedentes são longínquos: nem o grande filósofo idealista G. W. F. Hegel (1770-1831) pouparia críticas tanto às ciências quanto aos cientistas e filósofos mais próximos de uma perspectiva científica. Nunca escondeu, por exemplo, sua má-vontade em relação a Newton (1642-1727), o pai da física moderna, e a F. Bacon (1561-1626), fundador do método indutivo moderno e precursor da sistematização dos procedimentos científicos.
2. De Marcuse ao Unabomber
A partir dos anos 40 do século passado, a chamada Escola de Frankfurt é que se encarregaria de fomentar, por trás de sua crítica ao capitalismo, uma das mais persistentes e influentes críticas à racionalidade científica, com profundas repercussões nos movimentos estudantis da Europa da década de 60. "A física é burguesa", "a ciência é o capital": estas inscrições, nos muros da Paris de 68, resumiam, na verdade, os temas de Adorno, Horkheimer e, principalmente, Herbert Marcuse (1898-1979), o guru dos revoltosos (um dos três grandes "M" da época, junto com Marx e Mao).
Para Marcuse, ciência e capitalismo são uma só coisa. Em outras palavras, ciência (conhecimento racional e objetivo) e ideologia (concepção de mundo) se confundem. Desaparece o valor objetivo do conhecimento científico. A crítica da "razão instrumental" — ou "razão unidimensional", ou "razão técnica" — encerra, no fundo, uma crítica da própria Civilização. Daí o ataque à "sociedade industrial" ou "tecnológica", justamente a sociedade moderna, baseada na ciência e na tecnologia.
Apenas os filósofos italianos (especialmente Galvano Della Volpe e Lucio Colletti) perceberam esta trágica confusão, denunciando in loco a "Grande Recusa" marcusiana como a retomada de temas irracionalistas e românticos. A "contracultura" gerada neste ambiente cultural, no entanto, fixaria raízes e amoldaria mentes; boa parte da geração que, nas humanidades, cresceu ouvindo essas melancólicas diatribes contra a racionalidade científica, a técnica, a "indústria cultural", etc., hoje as reproduz nas universidades e nas revistas acadêmicas, quando não nos jornais. Principalmente no Brasil, onde ainda há saudosos das "barricadas do desejo" de 68 e o prestígio dos "frankfurtianos" continua incólume entre muitos intelectuais.
Por brevidade, considerarei aqui apenas as idiossincrasias anticientíficas de Marcuse. Não é necessário rastrear muito para se deparar, em sua obra, com inspirações irracionalistas-românticas. Aliás, elas percorrem toda a sua teoria: já num escrito de 1933 (Sobre os fundamentos filosóficos do conceito de trabalho na ciência econômica), sua polêmica era contra a objetividade, com a "submissão" do homem às coisas. Independentemente das épocas históricas, o trabalho sempre foi, para ele, "trabalho alienado" (o marxismo marcusiano confundia o que para Marx era distinto: "objetivação" e "alienação").
Para Marcuse, eliminar a "alienação" é eliminar a própria objetividade. Essa "superação", portanto, não pode ser buscada no trabalho, mas... no jogo. É somente no jogo que o homem "não se conforma aos objetos, à sua regularidade". Somente ao colocar-se "acima da objetividade" é que o homem alcança a si próprio, "numa dimensão de sua liberdade que é negada no trabalho". Para o filósofo alemão, "um simples lance de bola, por parte de um jogador, representa um triunfo da liberdade humana sobre a objetividade que é infinitamente maior que a mais estrondosa conquista do trabalho técnico" (cit. em Tambosi: 1999, p. 150 — são do livro também as citações seguintes).
E pense-se no Marcuse de Razão e revolução (1941), em que afirma que "a razão é a verdadeira forma da realidade", onde "todos os antagonismos do sujeito e do objeto são integrados". Hegel, afinal, já dissera que o real é o racional. Mas é no seu livro mais célebre — O homem unidimensional (1964) — que Marcuse transformará sua rejeição à objetividade num ataque à racionalidade científica. O "domínio", agora, estava inscrito na própria tecnologia. A "alienação" surge da produção industrial. A ciência, mais uma vez, é ideologia.
A última esperança, para ele, eram o Lumpenproletariat das metrópoles e as massas pobres do chamado "Terceiro Mundo", cuja oposição "é revolucionária, ainda que sua consciência não o seja". Tudo isto antecipava temas que dominariam os discursos nos anos seguintes. A "Grande Recusa" influenciaria não só a "Nova Esquerda" européia, mas também o costume e a mentalidade comuns. Ciência e capital eram uma só coisa: os males que o marxismo havia denunciado no capitalismo eram descarregados por Marcuse (e, diga-se, também por Adorno e Horkheimer) "nos ombros de Galilei e Bacon". O desastre havia começado já com a revolução científica do século XVII.
É a isto que os pensadores italianos chamam de "reação idealista" contra as ciências e a técnica. Que chega, no caso de Marcuse, à negação total do existente: além de atacar o capitalismo, ele condenava também o socialismo por "submeter-se ao aparato tecnológico". O filósofo sonhava com uma "nova ciência" e uma "nova técnica" — sobre as quais não forneceu jamais a mínima indicação. O problema da teoria marxista clássica, segundo ele, estava em conceber "a transição do capitalismo para o socialismo como uma revolução política", isto é, em destruir o "aparato político", mas não o "aparato tecnológico"!
No capitalismo avançado — prossegue Marcuse — "a racionalidade técnica está personificada, a despeito de seu uso irracional, no aparato produtor. Isto não se aplica apenas às fábricas mecanizadas, ferramentas e exploração de recursos, mas também à maneira de trabalhar como adaptação ao processo mecânico do mesmo, conforme programado pela ‘gerência científica’. Nem a nacionalização nem a socialização alteram por si essa personalização física da racionalidade tecnológica; pelo contrário, esta permanece uma condição prévia para o desenvolvimento socialista das forças produtivas" (Marcuse: 1989, p. 41).
Estamos no coração da "Grande Recusa", uma herança ideológica que, junto às filosofias "pós-modernas", ainda inspira manifestações contra a ciência e a tecnologia. O alvo, agora, é o vertiginoso processo de informatização. Lado a lado com a chamada III revolução industrial, crescem também a tecnofobia e a rejeição das tecnologias. O mal-estar assume novas — e até violentas — formas. Basta lembrar o caso do Unabomber, nos EUA, que enviava cartas-bombas para cientistas e universidades. Também nesse país, um intelectual que escreveu livros como Rebeldes contra o futuro e A revolução verde ilustra suas conferências quebrando computadores a golpes de martelo.
Recorde-se que o manifesto do terrorista Unabomber, publicado em setembro de 1995 pelo Washington Post, elege como inimiga a "sociedade industrial" (curiosamente, um conceito marcusiano), que ele considera "um desastre para a espécie humana" e contra a qual propõe uma "revolução": "a única saída" — pontifica — "é dispensar o sistema tecnológico inteiro". Seu temor são as "máquinas inteligentes", que acabarão por decidir no lugar da humanidade. "Quando chegar a esse estágio, as máquinas estarão, efetivamente, no controle. As pessoas não poderão simplesmente desligar as máquinas porque elas estarão tão dependentes delas que desligá-las equivaleria a cometer suicídio". A estratégia? "Promover o estresse social e a instabilidade na sociedade industrial, e desenvolver e difundir uma ideologia que se oponha à tecnologia e ao sistema industrial". O terrorista quer simplesmente "a eliminação da tecnologia moderna" (Folha de S. Paulo, 20/09/95).
Kirkpatrick Sale, o destruidor de computadores e autoproclamado líder do "neoludismo" (herdeiro do movimento de desempregados ingleses que, entre 1811 e 1813, quebravam máquinas em protesto contra a revolução industrial), compartilha esse mal-estar em relação à sociedade moderna. Para ele, "a civilização é catastrófica porque destrói a si mesma e o ambiente natural", e "o uso da ciência e das suas tecnologias é um atentado à Natureza, uma tentativa de criar uma natureza tecnológica, de modo que a humanidade possa controlar todas as coisas" (L’Espresso, 11/08/95). Do Unabomber, Sale só discorda quanto aos "métodos", porque "a intenção é boa".
No "paraíso" vislumbrado por Sale desaparecem os produtos tecnológicos: do computador ao forno de microondas, da videocâmera ao telefone digital. O automóvel é demoníaco. Voltemos às bicicletas, recomenda ele. Não é à-toa que nos EUA já exista, entre as associações antitecnológicas, até um "Clube do Lápis", que defende a escrita à mão. A utopia do último dos luditas, como quase todas as utopias anticientíficas contemporâneas, é uma volta ao passado.
3. É perigoso conhecer?
A julgar pelas vertentes e tendências aqui apontadas, a resposta é positiva. Na verdade, a idéia de que o conhecimento é perigoso está arraigada na nossa cultura. Já Adão e Eva, segundo a Bíblia, foram proibidos de alimentar-se dos frutos da Árvore do Conhecimento. Prometeu foi punido por ter dado o saber ao mundo. Na literatura, o Dr. Frankenstein é a imagem do cientista, pintado como um arrogante desalmado que de tudo é capaz para atingir seus objetivos, quaisquer que sejam as conseqüências. No cinema, é o gênio louco que produz monstros e catástrofes.
Imoral manipulador da Natureza, o cientista também foi responsabilizado pela construção da bomba atômica e, agora, é visto com suspeita em virtude da engenharia genética. Jornais e revistas publicam com freqüência textos alarmistas que advertem sobre os "perigos" da pesquisa genética (lembre-se a histeria sobre a clonagem), do projeto do genoma humano e dos transgênicos ("comida Frankenstein"). Nos títulos, invariavelmente, a insinuação de que o cientista "brinca de ser Deus". O horror, porém, convive com o fascínio, já que se espera da ciência a solução para a cura do câncer e da Aids, entre outras doenças.
A análise desse problema nos remete, de novo, à separação moderna de fatos e valores, ou seja, de ciência e ética. Como processo de conhecimento racional e objetivo, a ciência não é guiada por valores. Ela apenas nos mostra como o mundo é. A ciência descreve, a ética prescreve; a ciência explica, a ética avalia. Ciência, portanto, não produz ética. Das proposições descritivas não é possível deduzir asserções prescritivas, como bem viu o filósofo Hume (1711-1776). A separação de fatos e valores — conhecida justamente como Lei de Hume — impede que do "é "derive o "deve", que do "ser" derive o "dever ser".
Em oposição a essas tendências filosóficas e culturais, e considerando o patrimônio humano já alcançado, podemos afirmar que o conhecimento científico não é perigoso. O conhecimento é um bem em si mesmo. Para o ser humano, conhecer é tão vital quanto alimentar-se, defender-se ou amar. Já a tecnologia, contrariamente, pode ser tanto uma dádiva quanto uma maldição. Há processos tecnológicos intrinsecamente perversos, como a fabricação de instrumentos de tortura, armas bacteriológicas, etc. Como resume Bunge, "não se trata do mau uso imprevisto de um setor de conhecimento, como seria o mau uso de uma tesoura ou de um fósforo. A tecnologia da maldade é maldosa" (Bunge: 1980, p. 202).
Quando a pesquisa científica é posta em prática — por exemplo, em experimentos que envolvam seres humanos ou outros animais —, ou quando a ciência é aplicada à tecnologia, problemas éticos relevantes podem e devem ser levantados. Mas aqui é importante distinguir ciência de tecnologia, pois suas motivações são diferentes. Em poucas palavras, ciência (básica) produz idéias, teorias; tecnologia produz objetos, bens. Uma visa simplesmente conhecer; outra é voltada para fins práticos.
Convém observar que a tecnologia é muito mais antiga que a ciência e possui uma história própria. Todos os povos produziram tecnologias, mas só o povo grego criou a ciência de que somos herdeiros. Num belo livro, o historiador da tecnologia George Basalla demonstra que, até o século XIX, a ciência exerceu pouco impacto sobre a tecnologia. Sem auxílio da ciência, a tecnologia gerou a agricultura, os artefatos de metais, as conquistas da engenharia chinesa e até mesmo as catedrais do Renascimento. Essas imponentes construções foram erguidas por engenheiros que se baseavam na experiência prática, aprendendo diariamente com os erros, e não em teorias científicas. Prevalecia então, como sugere outro autor, "o teorema dos cinco minutos" — se uma estrutura permanecesse de pé por cinco minutos depois de tirados os suportes, presumia-se que se manteria de pé para sempre (cf. Basalla: 1999; e Wolpert: 1996).
A esta altura, impõe-se indagar quais são, afinal, as responsabilidades e obrigações morais dos cientistas. Não há dúvida de que eles possuem deveres distintos das obrigações dos demais cidadãos. Posto que os cientistas detêm conhecimento especializado sobre como é e como funciona o mundo, e isto nem sempre é acessível aos outros, é obrigação deles tornar públicas as implicações sociais de seu trabalho e suas aplicações tecnológicas" (cf. artigo de Wolpert na revista Nature, 398 (1999), p. 281-82; e Wolpert: 1996, p. 185 e segs.).
Se ciência e ética, como vimos, são distintas, nem por isso o cientista está isento de deveres éticos. O biólogo inglês Lewis Wolpert aponta, a propósito, um exemplo de comportamento imoral por parte dos cientistas no movimento da eugenia, iniciado na Inglaterra no final do século XIX, estendendo-se depois aos EUA. O movimento, cuja pretensão era "melhorar as raças", envolveu inicialmente nomes ilustres como Galton (criador do próprio conceito), Fisher, Haldane, Huxley, Morgan, Davenport, Havelock Ellis e até o literato Bernard Shaw. Não demorou que se passasse a considerar hereditário não só o talento, mas a pobreza; que se considerasse os negros "biologicamente inferiores" e que algumas "raças" possuíam "tendência à debilidade mental".
A Sociedade Eugênica Americana chegou a promover concursos para "famílias geneticamente sãs", qualificando, em seu "catecismo eugênico", o "plasma germinal humano" como "a coisa mais preciosa do mundo". Para impedir a "contaminação" dos plasmas, a receita era a esterilização em massa. Estima-se que, entre 1907 e 1928, nove mil pessoas foram submetidas a tal tratamento, sob a genérica etiqueta de "debilidade mental". E pense-se no horror nazista: a lei sobre esterilização eugênica, que Hitler decretou em 1933, foi o primeiro passo para as atrocidades cometidas pelos médicos nos campos de concentração (ver Wolpert: 1996, p. 194-98). Em relação à eugenia, portanto, está claro que os cientistas não assumiram suas obrigações éticas.
Diverso foi o comportamento dos pesquisadores envolvidos na construção da bomba atômica, um empreendimento tecnológico baseado em conhecimento científico. Aqui podemos perceber claramente como a confusão entre ciência e tecnologia conduziu a uma visão errônea sobre o papel da ciência. As aplicações desta não são, necessariamente, responsabilidade dos cientistas: as decisões cabem, muito mais, a governantes e políticos. No caso da bomba atômica, a responsabilidade foi assumida exclusivamente pelo presidente Roosevelt, como demonstra o jornalista norte-americano Richard Rhodes num livro admirável, ao qual remeto: The making of the atomic bomb: 1988). Em outras palavras, a decisão foi política, não científica.
Quem primeiro teve a idéia de uma possível reação em cadeia de nêutrons foi o físico húngaro Leo Szilard, então residente na Inglaterra. Através de Einstein, ele comunicou essa possibilidade a Roosevelt, que autorizou a montagem de um gigantesco projeto (secreto), envolvendo cientistas e engenheiros. Antes mesmo do primeiro teste nuclear (15 de julho de 1945), porém, Szilard demonstrou-se preocupado com uma operação sobre a qual, em realidade, os cientistas tinham pouco ou nenhum controle. Chegou a pensar, inclusive, num controle internacional que evitasse o monopólio norte-americano da bomba. Com a II Guerra chegando ao final, pensava ele, não havia razões para a utilização dessa arma. Szilard fez então circular uma petição, firmada por 66 cientistas que trabalhavam no projeto, a ser enviada ao presidente Truman, sucessor de Roosevelt (morto em maio de 45).
Argumentam os subscritores que "uma nação que estabelece o precedente de usar as forças da natureza recentemente desencadeadas com fins destrutivos, poderá ter que assumir também a responsabilidade de ter aberto as portas a uma era de devastação em dimensões inimagináveis." Por isso, pediam eles que o presidente usasse suas prerrogativas para impedir que os Estados Unidos recorressem ao emprego de bombas atômicas, salvo no caso de o Japão rejeitar as condições de rendição que lhe fossem impostas, e depois que tais condições fossem de amplo domínio público (Rhodes: 1988, p. 749 e segs.).
O fato é que a carta jamais chegou às mãos do presidente. No dia 6 de agosto de 1945, como se sabe, a bomba destruiu Hiroshima. Quanto a Szilard, dedicou-se depois da guerra a divulgar ao público as implicações do conhecimento científico. Jamais se cansou de ressaltar a necessidade de o público ser informado tanto sobre a ciência quanto sobre suas aplicações. Cumpriu à risca, portanto, o dever ético de todo cientista.
Textos citados
Basalla, George. The history of technology. Cambridge, Cambridge University Press, 8ª ed., 1999.
Bunge, Mario. Epistemologia. São Paulo, T. A. Queiroz, 2ª, 1987.
______. La ciencia. Su método e su filosofía. Buenos Aires, Sudamericana, 3ª, 1998.
Colletti, Lucio. Pagine di filosofia e politica. Milão, Rizzoli, 1989.
_____. Fine della filosofia e altri saggi. Roma, Ideazione, 1996.
Dawkins, Richard. O rio que saía do Éden. Rio de Janeiro, Rocco, 1996.
Gross, Paul, e Levitt, Norman. Higher superstition. The academic left and its quarrels with science. Baltimore, John Hopkins University Press, 2ª ed., 1998.
Marcuse, Herbert. O homem unidimensional. A ideologia da sociedade industrial. Rio de Janeiro, Zahar, 5ª ed., 1979.
_____. Razão e revolução. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2ª ed., 1978.
Monod, Jacques. O acaso e a necessidade. Ensaio sobre a filosofia natural da biologia moderna. Petrópolis, Vozes, 4ª ed., 1989.
Rhodes, Richard. The making of atomic bomb. Nova York, Simon & Schuster, 1988.
Tambosi, Orlando. O declínio do marxismo e a herança hegeliana. Florianópolis, Editora da UFSC, 1999.
Wolpert, Lewis. La natura innaturale della scienza. Bari, Edizioni Dedalo, 1996.
(Ilustração: Francis Picabia, Olga´s Gallery).