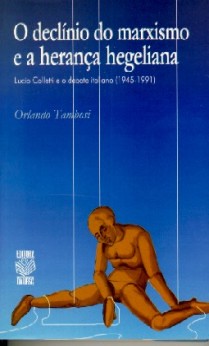Como toda atividade humana, o conhecimento científico-tecnológico pressupõe riscos e erros. Sabe-se que ações intencionais podem produzir resultados não intencionados. As ciências partem de hipóteses a serem testadas, não de certezas absolutas ou dogmas. Aliás, muito mais que produzir certezas, as ciências introduzem incertezas no quotidiano das pessoas, solapando as tradições e a idéia de absoluto. Assim, é pouco pertinente perguntar, em relação aos transgênicos ou organismos geneticamente modificados, se "há absoluta certeza na avaliação desses OGM" (é o que faz o fundamentalismo ambientalista). Mas é legítimo invocar o "princípio de precaução", calcular os riscos, considerar os possíveis benefícios e malefícios de qualquer empreendimento científico-tecnológico. Com o pressuposto, porém, de que, sem riscos, nem o conhecimento avança, nem o cidadão atravessa uma rua. Impedir a realização de uma ação "até que estejamos absolutamente certos" quanto a seus resultados significa proibir qualquer iniciativa. É suficiente e sensato que estejamos "razoavelmente certos".
A polêmica dos transgênicos, que acompanho a partir de um ponto de vista puramente filosófico e jornalístico, não me parece exigir princípios diferentes. Que é preciso ampliar as pesquisas e examinar os OGM caso a caso, como se faz com os medicamentos, não há dúvidas. O que não se pode é demonizá-los, como faz, por exemplo, o agrônomo José Hoffmann, o messiânico secretário da Agricultura do RS, que transformou em meramente ideológico este relevante tema científico. Aliás, não há evidências científicas de que tais organismos causem malefícios ao ambiente ou aos seres humanos - exceção para uma variedade de milho transgênico resistente a pesticidas, que provocou a morte de borboletas Monarca. Mas, mesmo nesse caso, não seria de se avaliar também se os pesticidas são mais letais que o próprio milho?
Até agora, a questão tem sido tratada com mais paixão que discernimento. O que se percebe é que as organizações que difundem apenas o temor, ressaltando os perigos em detrimento dos benefícios dos OGM, prendem-se geralmente a concepções anticientíficas, ideológicas e religiosas, ao invés de argumentos científicos. Não é algo novo na história das ciências. No fundo, essas tendências cultivam a sacralização da natureza, tida como lugar "inviolável", "intocável", reservado ao desenrolar das leis divinas (no caso dos religiosos) ou da evolução (no caso dos ecologistas): a natureza como pureza não adulterada, o que existia "na origem", a harmonia pré-humana. Não se estranhe, portanto, que os cientistas da genética sejam acusados de "brincar de Deus", nem que os alimentos transgênicos sejam depreciados como "comida Frankenstein".
A informação científica é fundamental para que o próprio consumidor faça seus juízos e tome sua decisão quanto aos OGM, um tema que não diz respeito apenas aos cientistas, ao Estado ou às multinacionais, nem, muito menos, aos teólogos ou aos intelectuais e ideólogos tardo-românticos que identificam a ciência e a tecnologia com as multinacionais e o capitalismo. Quanto mais informação o indivíduo dispuser, em relação às biotecnologias, menos refém se tornará de posições fundamentalistas que consideram os transgênicos um mal absoluto ou um bem absoluto. Pois eles não são nem uma coisa, nem outra: são apenas fruto da capacidade e inteligência humanas, e se tornarão cada vez mais indispensáveis à sobrevivência num planeta de recursos limitados e esgotáveis, cuja população, nos próximos 30 anos, atingirá 8 bilhões de habitantes. Parece claro que, se hoje ainda dispomos de alternativas para não usar os produtos transgênicos, no futuro próximo elas se tornarão cada vez mais raras. E não há razões para acreditar que a vida será pior ou melhor do que é, principalmente se mais transgênicos significar menos agrotóxicos.
Orlando Tambosi
(Publicado no Jornal Universitário (UFSC), 15/12/2000)
29.6.06
16.6.06
Quem tem medo da técnica?
Pensare la Tecnica: Un secolo di incomprensioni, de Michela Nacci.
Roma-Bari, Laterza, 2000, 245 pp.
Como os intelectuais do século XX interpretaram a técnica? Esta é a pergunta básica que Michela Nacci procura responder em seu belo livro Pensare la Tecnica, cujo subtítulo já diz tudo: um século de incompreensões. Segundo a autora, esses intelectuais em geral julgaram a técnica de modo negativo, e, ao buscarem nela uma "essência", anularam as diferenças entre uma técnica e outra, isto é, fizeram das diversas técnicas a técnica.
É dessa presumida essência, de fato, que brotam as maiores incompreensões, "as definições mais arbitrárias, as acusações mais injustificadas". Caso contemplassem as técnicas de modo realista, eles teriam percebido que todo processo técnico se move dentro de limites determinados, seguindo percursos traçados no passado: inventa-se a partir do que já se tem, das regras disponíveis, dos conhecimentos acessíveis. Mas, vendo a técnica como "una e generalíssima", os intelectuais do vigésimo século puderam atribuir-lhe uma racionalidade (ou irracionalidade) própria, dotando a técnica de uma finalidade, um sentido intrínseco, que a guiaria do início ao fim.
A autora não hesita em afirmar que, "salvo poucas exceções, a filosofia deste século interpretou a técnica de modo distorcido, deformado; fez dela o demiurgo onipotente que tudo pode em toda situação. Personificou-a, demonizou-a, tornou-a cúmplice ou responsável pelos totalitarismos, pelas sociedades opressivas, pela massificação do homem e até mesmo pelo fim da civilização ocidental" — um tema, aliás, que percorreu todo o século. Essas reações demonstram que a cultura humanística não conseguiu se desenvencilhar, em relação à técnica, de "uma imagem mítica e idealizada, semelhante àquela que as crianças têm dos adultos".
Michela Nacci divide o livro em duas partes. Na primeira, analisa os itinerários da filosofia da técnica no Novecento, através de seus representantes mais expressivos. Na segunda, considera as imagens da técnica presentes em autores que não são filósofos, fornecendo, como ela própria diz, "a anatomia de um senso comum da cultura humanística sobre a técnica". Os filósofos, particularmente, representaram a técnica de cinco maneiras distintas: como autônoma em relação ao homem; como domínio, uma característica da própria modernidade (visão comum na cultura contemporânea); como oposta ao pensamento; e como totalitarismo. Hans Jonas, Ernst Jünger, Günther Anders, Oswald Spengler, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Theodor Adorno e Max Horkheimer são alguns dos pensadores que expressam essas tendências.
Para Heidegger, por exemplo, que nunca escondeu sua repulsa e condenação à técnica, a essência desta é a imposição. Mais que fazer ou usar a técnica, o homem está no âmbito dessa imposição, sendo por ela dominado. A técnica é algo tão pouco controlável que tem pouca sintonia com os princípios democráticos. A razão disso, observa Nacci, reportando-se ao filósofo alemão, "é que na democracia sobrevive a ilusão de que a técnica é algo que está nas mãos do homem. Ao contrário, a técnica (exatamente porque não é um instrumento) é algo que o homem não domina de fato", ou seja, é "imposição". Heidegger aceitaria o nazismo, conclui a autora, porque este estava na direção de "conquistar uma relação com a essência da técnica".
Na segunda parte do livro ("Imagens da Técnica"), Nacci aborda alguns autores contemporâneos, como Serge Latouche, os "pós-modernos" Jean-François Lyotard e Gianni Vattimo (este, autor da apresentação de Pensar a Técnica) e os "teóricos críticos" Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, particularmente aclamados em certos setores acadêmicos brasileiros por sua crítica à "indústria cultural", na famosa Dialética do Iluminismo. Nacci dedica o capítulo 9 à análise que os frankfurtianos fazem do rádio, instrumento de "domínio" por excelência, especificamente do nazismo ("a boca universal do Führer"), que transformaria a racionalidade em irracionalidade. A obra de Adorno e Horkheimer é, de fato, um clássico sobre a deformada percepção da técnica pelos intelectuais.
Entre os contemporâneos, o apocalíptico Latouche — um "especialista em Terceiro Mundo" — também é conhecido no Brasil (seu A Ocidentalização do Mundo, lançado pela Vozes, de Petrópolis, já tem várias edições), certamente por figurar entre os críticos ideológicos da globalização, tão ao gosto da cultura humanística que, amparando-se na literatura e nas artes como pretensas portadoras exclusivas dos "valores humanos", contrapõe-se hostilmente à cultura tecnocientífica. Para o intelectual francês, o domínio da natureza, através da ciência e da tecnologia, é um projeto totalitário, sendo a técnica "um instrumento poderoso na colonização de corpos e espíritos", de "padronização do imaginário".
A técnica, aliás, é a própria cultura do Ocidente: "O empreendimento colonial participa também do projeto de total domínio da natureza. À exploração marítima do século XVI sucede a exploração científica do século XVIII. Ao confisco das riquezas e das almas, segue-se o inventário enciclopédico do Cosmo". O que leva Latouche a concluir que a técnica "tornou-se um artigo de fé universal, a conseqüência concreta e a presença visível da nova divindade: a ciência" (observe-se que a condenação da técnica, em geral, acompanha a condenação da ciência. Raramente elas são vistas como distintas).
O itinerário que Michela Nacci reconstrói com precisão e clareza, além de paixão teórica, aponta para um risco permanente, já assinalado por Vattimo na apresentação do livro: a "demonização humanística da técnica", a que a cultura se entregou até hoje, ao invés de elaborar "uma proposta positiva, que compreenda critérios para fazer escolhas dentro do mundo técnico, e não apenas vias de fuga e exorcismos". É necessário, sobretudo, compreender as técnicas dentro de seus limites reais, abandonando as visões essencialistas. Tanto quanto as ciências, as técnicas nada tem a ver com finalismo. Por todos esses méritos, a obra da professora italiana (Universidade de Aquila) merece uma tradução.
Orlando Tambosi
Copyright © 1997–2005 criticanarede.com · ISSN 1749-8457.
Direitos reservados. Não reproduza sem citar a fonte.
Roma-Bari, Laterza, 2000, 245 pp.
Como os intelectuais do século XX interpretaram a técnica? Esta é a pergunta básica que Michela Nacci procura responder em seu belo livro Pensare la Tecnica, cujo subtítulo já diz tudo: um século de incompreensões. Segundo a autora, esses intelectuais em geral julgaram a técnica de modo negativo, e, ao buscarem nela uma "essência", anularam as diferenças entre uma técnica e outra, isto é, fizeram das diversas técnicas a técnica.
É dessa presumida essência, de fato, que brotam as maiores incompreensões, "as definições mais arbitrárias, as acusações mais injustificadas". Caso contemplassem as técnicas de modo realista, eles teriam percebido que todo processo técnico se move dentro de limites determinados, seguindo percursos traçados no passado: inventa-se a partir do que já se tem, das regras disponíveis, dos conhecimentos acessíveis. Mas, vendo a técnica como "una e generalíssima", os intelectuais do vigésimo século puderam atribuir-lhe uma racionalidade (ou irracionalidade) própria, dotando a técnica de uma finalidade, um sentido intrínseco, que a guiaria do início ao fim.
A autora não hesita em afirmar que, "salvo poucas exceções, a filosofia deste século interpretou a técnica de modo distorcido, deformado; fez dela o demiurgo onipotente que tudo pode em toda situação. Personificou-a, demonizou-a, tornou-a cúmplice ou responsável pelos totalitarismos, pelas sociedades opressivas, pela massificação do homem e até mesmo pelo fim da civilização ocidental" — um tema, aliás, que percorreu todo o século. Essas reações demonstram que a cultura humanística não conseguiu se desenvencilhar, em relação à técnica, de "uma imagem mítica e idealizada, semelhante àquela que as crianças têm dos adultos".
Michela Nacci divide o livro em duas partes. Na primeira, analisa os itinerários da filosofia da técnica no Novecento, através de seus representantes mais expressivos. Na segunda, considera as imagens da técnica presentes em autores que não são filósofos, fornecendo, como ela própria diz, "a anatomia de um senso comum da cultura humanística sobre a técnica". Os filósofos, particularmente, representaram a técnica de cinco maneiras distintas: como autônoma em relação ao homem; como domínio, uma característica da própria modernidade (visão comum na cultura contemporânea); como oposta ao pensamento; e como totalitarismo. Hans Jonas, Ernst Jünger, Günther Anders, Oswald Spengler, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Theodor Adorno e Max Horkheimer são alguns dos pensadores que expressam essas tendências.
Para Heidegger, por exemplo, que nunca escondeu sua repulsa e condenação à técnica, a essência desta é a imposição. Mais que fazer ou usar a técnica, o homem está no âmbito dessa imposição, sendo por ela dominado. A técnica é algo tão pouco controlável que tem pouca sintonia com os princípios democráticos. A razão disso, observa Nacci, reportando-se ao filósofo alemão, "é que na democracia sobrevive a ilusão de que a técnica é algo que está nas mãos do homem. Ao contrário, a técnica (exatamente porque não é um instrumento) é algo que o homem não domina de fato", ou seja, é "imposição". Heidegger aceitaria o nazismo, conclui a autora, porque este estava na direção de "conquistar uma relação com a essência da técnica".
Na segunda parte do livro ("Imagens da Técnica"), Nacci aborda alguns autores contemporâneos, como Serge Latouche, os "pós-modernos" Jean-François Lyotard e Gianni Vattimo (este, autor da apresentação de Pensar a Técnica) e os "teóricos críticos" Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, particularmente aclamados em certos setores acadêmicos brasileiros por sua crítica à "indústria cultural", na famosa Dialética do Iluminismo. Nacci dedica o capítulo 9 à análise que os frankfurtianos fazem do rádio, instrumento de "domínio" por excelência, especificamente do nazismo ("a boca universal do Führer"), que transformaria a racionalidade em irracionalidade. A obra de Adorno e Horkheimer é, de fato, um clássico sobre a deformada percepção da técnica pelos intelectuais.
Entre os contemporâneos, o apocalíptico Latouche — um "especialista em Terceiro Mundo" — também é conhecido no Brasil (seu A Ocidentalização do Mundo, lançado pela Vozes, de Petrópolis, já tem várias edições), certamente por figurar entre os críticos ideológicos da globalização, tão ao gosto da cultura humanística que, amparando-se na literatura e nas artes como pretensas portadoras exclusivas dos "valores humanos", contrapõe-se hostilmente à cultura tecnocientífica. Para o intelectual francês, o domínio da natureza, através da ciência e da tecnologia, é um projeto totalitário, sendo a técnica "um instrumento poderoso na colonização de corpos e espíritos", de "padronização do imaginário".
A técnica, aliás, é a própria cultura do Ocidente: "O empreendimento colonial participa também do projeto de total domínio da natureza. À exploração marítima do século XVI sucede a exploração científica do século XVIII. Ao confisco das riquezas e das almas, segue-se o inventário enciclopédico do Cosmo". O que leva Latouche a concluir que a técnica "tornou-se um artigo de fé universal, a conseqüência concreta e a presença visível da nova divindade: a ciência" (observe-se que a condenação da técnica, em geral, acompanha a condenação da ciência. Raramente elas são vistas como distintas).
O itinerário que Michela Nacci reconstrói com precisão e clareza, além de paixão teórica, aponta para um risco permanente, já assinalado por Vattimo na apresentação do livro: a "demonização humanística da técnica", a que a cultura se entregou até hoje, ao invés de elaborar "uma proposta positiva, que compreenda critérios para fazer escolhas dentro do mundo técnico, e não apenas vias de fuga e exorcismos". É necessário, sobretudo, compreender as técnicas dentro de seus limites reais, abandonando as visões essencialistas. Tanto quanto as ciências, as técnicas nada tem a ver com finalismo. Por todos esses méritos, a obra da professora italiana (Universidade de Aquila) merece uma tradução.
Orlando Tambosi
Copyright © 1997–2005 criticanarede.com · ISSN 1749-8457.
Direitos reservados. Não reproduza sem citar a fonte.
Problemas da epistemologia

Jonathan Dancy
Universidade de Reading.
A epistemologia é o estudo do nosso direito às crenças que temos. De modo mais genérico, começamos com o que poderíamos chamar «posturas cognitivas», indagando se agimos bem ao manter estas posturas. As posturas cognitivas incluem tanto a crença quanto o (que pensamos ser) conhecimento; e, noutra dimensão, incluem igualmente nossas atitudes em relação às várias estratégias e métodos que usamos para adquirir novas crenças e abandonar as antigas, e os produtos destas estratégias e métodos. A epistemologia, assim apresentada, é explicitamente normativa; trata de saber se agimos bem ou não (de forma responsável ou irresponsável) ao formar as crenças que temos.
Ao investigar nesta área, obviamente que não questionamos apenas as crenças e estratégias em que nos encontramos inicialmente. Também questionamos se não há outras que seria conveniente ter, e se não há outras ainda que devemos ter, dado que temos as que temos. A esperança é alcançar uma imagem completa do modo como um agente cognitivo responsável se deve comportar, tendo alguma garantia de não termos ficado aquém desse ideal.
Justificação
Podemos distinguir dois tipos de crenças: a mediata e a não mediata. Crenças mediatas são aquelas que adquirimos por intermédio de alguma estratégia que começa nas crenças que já possuímos. A inferência é uma estratégia (se bem que não a única); nós inferimos que vai chover a partir das crenças de que estamos a meio da manhã e que o céu está a escurecer. As crenças mediatas levantam a questão de saber se temos direito à estratégia que adoptámos — se é uma estratégia que fazemos bem em usar. As crenças não mediatas são as que adoptamos sem que, para as termos, seja necessário partirmos de outras crenças que já temos; e suscitam problemas diferentes, que dizem respeito à fonte do nosso direito em acreditar. Eu abro os olhos e, em razão do que vejo, acredito imediatamente que há um livro à minha frente. Se estou a agir bem ao adoptar esta crença, ela justifica-se (ou tenho uma justificação para a adoptar). Esta atenção dada à justificação é um modo de expressar a ideia de que a epistemologia é normativa. Então o que faz, neste caso, uma crença ser justificada?
Há várias respostas. Uma é a resposta fiabilista: a crença justifica-se porque é o resultado de um processo fiável. Outra é a resposta coerentista: a crença justifica-se porque o meu mundo é mais coerente com ela do que seria sem ela. Uma terceira é a alegação fundacionalista clássica, que entende que a crença não é de fato não-mediata, mas inferida de uma crença sobre como as coisas me aparecem neste preciso momento. Se esta última for verdadeira, somos lançados de novo em duas questões. A primeira consiste em saber se e como a crença sobre como as coisas me parecem neste preciso momento se justifica. A segunda questão reside em saber se a inferência extraída da primeira crença se justifica. Nós poderíamos perguntar, então, que princípio de inferência está a ser usado. Suponha-se que é este: se as coisas me aparecem de determinada maneira, são provavelmente dessa maneira. O que torna isto suficiente para nos levar a supor que agimos bem ao usar este princípio?
A Estrutura da Justificação
Isto nos leva a um questionamento específico sobre a justificação, que tem recebido muita atenção. Suponha-se que a justificação que atribuímos a uma crença A mediata recorre à sua relação com uma crença B. Esta crença, B, justificaria a outra, A: a crença de que hoje é Domingo justifica a crença de que o carteiro não virá hoje. Há uma intuição muito forte de que B só pode conferir justificação a A se ela própria estiver justificada. Assim, a questão de saber se A está justificada ainda não foi respondida, ao apelar a B; foi apenas arquivada. Se, para estar justificada, depende do que é B, então o que justifica B? Nós poderíamos apelar a outra crença C, mas então o problema apenas se tornaria recorrente. Temos o início de uma regressão infinita. A primeira crença na série não se justifica, a menos que a última se justifique. Mas poderá mesmo haver uma última crença na série?
Esta é a regressão infinita da justificação. O fundacionalismo leva a sério esta regressão e esforça-se para encontrar «crenças básicas» que seriam capazes de detê-la. Os caminhos promissores neste sentido incluem a ideia de que as crenças básicas são justificadas pela sua fonte originária (são o produto imediato dos sentidos, talvez), ou pelo seu objecto (dizem respeito à natureza dos estados sensoriais actuais de quem acredita). O empirismo, nesta conexão, quer de alguma forma situar crenças básicas na experiência. O próprio fundacionalismo relaciona-se com a estrutura deste programa empirista. Assim, a preocupação com a regressão da justificação é uma preocupação com a estrutura da justificação. O coerentismo procura demonstrar que um conjunto de crenças justificadas não precisa ter a forma de uma superstrutura de base; a ideia é que o programa fundacionalista está destinado a fracassar, posto que a «base» não é firme, uma vez que não se apoia em coisa alguma. Se este fosse o resultado, e se os fundacionalistas tivessem razão quanto à estrutura de um conjunto de crenças justificadas, a única conclusão possível seria a céptica — ou seja, que nenhuma das nossas crenças estão de facto justificadas.
Os coerentistas rejeitam a distinção entre superstrutura e base; não há crenças que estejam intrinsecamente fundamentadas, e nenhuma que seja intrinsecamente uma superstrutura. As crenças sobre a experiência podem apoiar-se no apelo à teoria (o que seria no sentido ascendente, em termos do modelo fundacionalista), e vice-versa (as teorias precisam do apoio da experiência). A coisa é bastante desordenada, e não pode ser claramente dividida em camadas.
Conhecimento
A epistemologia, como explicámos, concentra-se no problema da justificação. Mas há um segundo centro de interesse no conhecimento. Está bem quem possui uma crença justificada. Contudo, a justificação dá-se em graus, assim como nosso estatuto epistémico (determinado por quão bem nos estamos a sair). O estatuto principal é o conhecimento. Quem sabe que p não poderia estar a sair-se melhor (pelo menos em relação a p). Há um interesse natural neste estatuto principal. E levantam-se duas questões fundamentais: qual é o máximo que podemos almejar, e em que áreas o obtemos? As tentativas tradicionais de definir o conhecimento concentram-se no primeiro caso, e dividem-se em duas famílias principais. A primeira tenta ver o conhecimento como uma forma mais inteligente de crença; a forma mais conhecida desta perspectiva é a «definição tripartida», que entende o conhecimento como 1) crença simultaneamente 2) justificada e 3) verdadeira. A segunda família desta perspectiva entende que o conhecimento começa onde se abandona a crença. A versão de Platão desta perspectiva supunha que a crença está voltada para a mudança (especialmente o mundo material), e o conhecimento, para o imutável (por exemplo, a matemática). Outras versões poderiam sugerir que temos capacidade para obter conhecimento a partir do que nos cerca, mas somente quando algo físico se apresenta directamente à mente. Assim, o conhecimento é uma relação directa, enquanto a crença é concebida como uma relação indirecta com algo em que se acredita.
A segunda questão sobre o conhecimento, a saber, em que áreas o podemos obter, conduz à distinção entre global e local. Em algumas áreas, por assim dizer, o conhecimento é acessível, e noutras não — ou ao menos não é tão livremente acessível. É comum ouvir as pessoas dizerem que não temos nenhum conhecimento do futuro, de Deus, ou do bem e do mal, ao mesmo tempo que se permite que haja ao menos algum conhecimento científico e algum conhecimento do passado (na memória). Similarmente, discutindo a justificação da crença, podemos dizer que as nossas crenças sobre o que se encontra agora à nossa volta estão em solo firme, tão firme quanto aquele que apoia as nossas convicções teóricas centrais (ainda que razoavelmente distintas) no domínio da ciência, enquanto nossas crenças sobre Deus e sobre o futuro são intrinsecamente bem menos fundamentadas.
Ceticismo
O ceticismo, no tocante ao conhecimento, origina-se tanto de formas globais quanto locais. O cético quanto ao conhecimento sustenta que não podemos obter conhecimento, e esta afirmação poderia ser feita de modo genérico (tipo global) ou apenas em áreas específicas, tais como as mencionadas acima (forma local). O cepticismo quanto à crença é geralmente defendido como o mais interessante. O cético em relação à crença, na forma global, afirma que não temos direito a quaisquer das nossas crenças; nenhuma é melhor que as demais, e nenhuma é suficientemente boa para ser tida como justificada. Mais localmente, um céptico pode afirmar que, apesar de nos sairmos bem relativamente a crenças sobre coisas presentemente ocultas (por exemplo, no guarda-louças), não temos direito a quaisquer crenças sobre o bem e o mal. Quem afirma algo assim defende o cepticismo moral, e a dificuldade desta posição é que não se pode ter certeza de que as razões que jazem sob esse cepticismo moral não vão derivar para outras áreas. Se, por exemplo, a objecção a crenças no domínio das questões morais reside em algo que esteja para lá do alcance da observação, poder-se-ia fazer a mesma objecção a crenças científicas sobre matérias pequenas demais para serem observadas.
Portanto, há uma distinção entre ceticismo local e global, tanto na teoria da crença justificada quanto na do conhecimento. Estes dois tipos de cepticismo precisam de ser apoiados por argumentos, e um problema principal da epistemologia é a tentativa de avaliar e refutar estes argumentos à medida que surgem. Esta é uma via importante, pela qual podemos trabalhar para determinar o nosso direito às nossas crenças.
Na história da epistemologia há duas ramificações clássicas do argumento cético: a pirronista e a cartesiana. O pirronismo (nome dado a partir de seu líder, Pirro de Élis (c.365-270 BC)) mantém a atenção dada à justificação da crença, ao passo que o cepticismo que herdamos de Descartes começa como conhecimento e tenta alargar-se para a crença a partir deste ponto. Descartes argumentava que não podemos conhecer algo se formos incapazes de distinguir entre o caso verdadeiro e o caso em que, apesar de falso, parece verdadeiro. Se não é possível a distinção, então, apesar de poder ser verdadeiro, tanto quanto sabemos não é. Este caso poderia ser, tanto quanto podemos dizer, aquele em que as aparências nos enganam, e dificilmente poderíamos afirmar saber que não nos enganam. Embora este argumento seja suficientemente persuasivo como argumento céptico em relação ao conhecimento, esta abordagem não pode ser alargada para apoiar a um cepticismo quanto à crença. O facto de eu não poder dizer quando as aparências me enganam pouco contribui para demonstrar que não tenho razão (ou que minhas razões sejam insuficientes) ao manter minhas crenças. Na tradição pirronista as coisas são diferentes. Neste tipo de cepticismo procura-se explicitamente mostrar que as razões de uma perspectiva nunca são melhores que as de outra. Neste sentido, seríamos então forçados a conceder que não há uma crença favorecida pelo equilíbrio das razões, e assim admitir que não podemos defender o nosso direito às crenças da única maneira possível, a saber, demonstrando que evidências as apoiam. O pirronismo concentra-se nos critérios pelos quais distinguimos entre o verdadeiro e o falso e argumenta, de várias formas, que não temos direito a estes critérios, ou seja, que eles não podem ser racionalmente defendidos. Adoptando uma estratégia clássica, pode-se perguntar qual é o critério que podemos usar para avaliar o critério; se vamos recorrer aos vários critérios que estão sob consideração, caímos numa petição de princípio e não temos mais critérios a que recorrer. O pirronismo ataca as nossas estratégias cognitivas, argumentando que nenhuma delas pode ser defendida. O ataque de Hume à racionalidade da indução é o exemplo clássico.
Naturalismo em epistemologia
Sendo normativa, a epistemologia ocupa-se da avaliação — a avaliação de estratégias e de seus produtos (as crenças). Entre as estratégias que avalia encontram-se as da ciência. Assim concebida, a epistemologia coloca-se na posição de julgar todas as outras áreas da investigação humana; é tida como Filosofia Primeira. (O questionamento céptico apresentado acima indaga como a epistemologia poderia ser bem sucedida ao avaliar-se a si mesma.) Quine esforçou-se para reverter esta posição e para compreender a epistemologia como parte integrante da ciência, primeiramente observando os resultados da ciência para então responder às questões da epistemologia. Este projecto, chamado «epistemologia naturalizada», não é impossível. A ciência foi às vezes bem sucedida a avaliar as suas próprias estratégias, da mesma forma que avalia os seus próprios instrumentos. Assim, a ciência é às vezes normativa; é capaz não somente de examinar nossos processos perceptivos, mas também de se pronunciar sobre sua fiabilidade. Mas algumas das questões da epistemologia parecem resistir à naturalização; por exemplo, as questões em que a razão interessa mais que a observação.
Áreas especiais
Há tradicionalmente quatro fontes de conhecimento (ou de crença justificada): a sensação, a memória, a introspecção e a razão. Cada um tem a sua epistemologia. O estudo do conhecimento perceptivo quer saber como a percepção consegue gerar conhecimento a partir do material à nossa volta. Para responder a esta questão é preciso obviamente conhecer em certa medida como os sentidos realmente funcionam. Mas este conhecimento parece não ser suficiente (assim, talvez a epistemologia dos sentidos também não possa ser naturalizada). Há dificuldades a ser encaradas aqui que não podem ser resolvidas com alguma informação mais específica. A primeira dificuldade é a céptica, que às vezes se chama «véu perceptivo». Se nossos sentidos somente revelam o conhecimento sobre a aparência das coisas, como podemos esperar usá-los para descobrir o que as coisas realmente são? As aparências, neste mostrar, constituem-se mais como obstáculos do que em ajuda para as nossas tentativas de discernir a natureza da realidade; a percepção lança um véu sobre o mundo, muito mais do que nos revela o mundo. A segunda dificuldade céptica deriva do argumento da ilusão.
Noutro extremo, encontramos a epistemologia da razão. As actividades da razão são duas. Primeiro, há a inferência, em que nos movemos do velho conhecimento para o novo. A sua variante mais forte é a inferência dedutiva válida, que ocorre quando não é possível que as premissas (de onde nos movemos) sejam verdadeiras se a conclusão (para a qual nos movemos) for falsa. Uma pergunta que cabe aqui é a seguinte: Como poderia tal inferência gerar novo conhecimento? Certamente que a conclusão deve estar de alguma forma já contida nas premissas, se as premissas não podem ser verdadeiras quando a conclusão é falsa. A segunda alegada actividade da razão é a descoberta directa de novas verdades. A verdade que pode ser descoberta somente com a actividade da razão chama-se «verdade a priori», e o conhecimento derivado dela é um conhecimento a priori. Uma das maiores questões da epistemologia consiste em saber como é possível o conhecimento a priori, e que tipos de verdades podem ser conhecidas desta forma. Algumas proposições são verdadeiras em virtude apenas de seu significado, por exemplo, «Todos os solteiros são pessoas». Conhecemos esta verdade, e não pelo apelo aos sentidos, à introspecção, ou à memória; conhecemo-la pela razão. Mas proposições deste tipo (frequentemente chamadas «analíticas») são triviais. Não nos dão qualquer conhecimento substancial. Poderá a razão dar-nos um conhecimento substancial de algo, ou tudo se resume ao conhecimento a priori analítico e (consequentemente) trivial? Por exemplo, se o conhecimento matemático é produto da razão, pode ser substancial? As verdades matemáticas são meramente analíticas? Parece que nos dividimos entre afirmar que as verdades matemáticas são importantes e dizer que as conhecemos unicamente através da actividade da razão. Foi a tentativa de evitar esse dilema que levou Kant a escrever a primeira Crítica.
O lugar da epistemologia
Qual é o lugar da epistemologia no mapa filosófico? Eu vejo-a como um capítulo no projeto mais geral a que se chama «filosofia da mente»; é o lado avaliativo deste projecto. Na filosofia da mente interrogamo-nos quanto à natureza dos estados mentais; em particular (para os nossos propósitos), sobre a natureza da crença. As perspectivas que temos em epistemologia são sensíveis às respostas àquela questão, da mesma forma que são sensíveis aos resultados científicos sobre a natureza dos processos da percepção. Por exemplo, a importância que dermos à relação entre o conhecimento e a crença dependerá crucialmente do modo pelo qual concebemos a crença. Trata-se de um estado fechado, em que temos consciência das representações das coisas mais que das próprias coisas (o véu da crença)? Se for assim, o conhecimento passa a ser simplesmente a melhor forma de tal estado — o véu mais fino? Ou o conhecimento deve ser concebido de outra forma?
A outra área filosófica em que a epistemologia está intimamente relacionada é a teoria do significado. A questão de saber se somos capazes de conhecer proposições de determinado tipo é sensível ao valor que damos ao significado dessas proposições. Por exemplo, se pressupomos que os enunciados sobre o mundo material são distintos dos enunciados sobre a experiência, e se pensamos que nosso conhecimento das experiências está para além do ataque céptico, é possível esperar que possamos defender nossa habilidade de conhecer a natureza do mundo material. Esta esperança é a esperança de que o fenomenismo resolva por nós alguns dos problemas epistemológicos.
Jonathan Dancy
Bibliografia
R. M. Chisholm, Theory of Knowledge, 2nd edn. (Englewood Cliffs, NJ, 1977).
J. Dancy, Introduction to Contemporary Epistemology (Oxford, 1985).
A. Goldman, Epistemology and Cognition (Cambridge, Mass., 1986).
W. V. Quine, "Epistemology Naturalised", in Ontological Relativity (New York, 1969).
W. F. Sellars, "Empiricism and the Philosophy on Mind", in Science, Perception and Reality (London, 1963).
L. Wittgenstein, On Certainty (Oxford, 1969)
.
Tradução de Eliana Curado. Texto extraído de Oxford Companion to Philosophy, org. por Ted Honderich (OUP, 1995, pp. 809-812).
Copyright © 1997–2005 criticanarede.com · ISSN 1749-8457
Direitos reservados. Não reproduza sem citar a fonte.
9.6.06
Uma entrevista com Lucio Colletti

Transcrevo aqui a entrevista do filósofo Lucio Colletti a Antonio Gnoli, do jornal italiano La Repubblica (edição de 24/fevereiro/01), a propósito do lançamento de meu livro Perché il marxismo ha fallito. Lucio Colletti e la storia di una grande illusione (Mondadori, 2001). O texto está disponível no site de filosofia SWIF (link ao lado).
Suona il telefono, è la voce di Lucio Colletti dall'altra parte.
Inconfondibile come l'assolo perentorio di una tromba rauca e contratta in una notte di fumo e di jazz. "Hai ricevuto il misfatto?". "Sì, ho ricevuto". Il misfatto è il libro che mi è appena arrivato. Odora, come si diceva una volta, di fresco: 350 pagine sul Perché il marxismo ha fallito, questo è il titolo. Sottotitolo: "Lucio Colletti e la storia di una grande illusione" (Mondadori, lire 38.000). L'autore è un tal Orlando Tambosi, un nome che per sonorità evoca i personaggi dei campi di calcio descritti con impareggiabile maestria da Osvaldo Soriano. Tambosi è un professore brasiliano, a suo tempo folgorato dalle vicende del marxismo italiano e in particolare da uno dei suoi protagonisti, dei suoi attori (uso l'espressione volutamente), che ha calcato la scena italiana, sferzando parecchi luoghi comuni e guadagnandosi un indiscusso rilievo internazionale.
Destino che è stato per lo più negato agli altri artefici. Ma non a lui né ai suoi libri che hanno circolato in Europa e perfino negli Stati Uniti. Naturalmente ne è consapevole. E su questo gioca, come quelle vecchie glorie del calcio cui - fra un palleggio e l'altro - il tempo non ha tolto l'ironia e il gusto di prendersi talvolta in giro. Al telefono Colletti è, come dire?, non affabile, ma intimo. Ti parla come se non avesse pensieri da nascondere, ti dice tutto quello che gli passa per la testa con la stessa naturalezza con cui, immagino, si faccia la barba la mattina davanti allo specchio.
E' un uomo, si direbbe, sprovvisto di inconscio. E' un po' che non ci sentiamo. Nei mesi passati ha subito un piccolo intervento chirurgico, è intervenuto varie volte sui giornali per la sua attività di parlamentare di Forza Italia, ha avuto la disavventura di tingersi involontariamente i capelli di biondo e da ultimo, molto più recente, la sgradevole vicenda di vedersi rifiutata la prefazione al nuovo libro di Berlusconi che lui definisce "berlusconiana", ma non scritta in ginocchio.
"Sai, dice, i monumenti si fanno ai morti e poi non mi riesce, non è nel mio spirito produrmi in elegie, in soffietti". Osservo sommessamente che in fondo è proprio questo il problema della sua vita - gli orientali parlerebbero di karma: mai darla vinta all'avversario (e neppure all'amico), mai sottomettersi al più forte anche se quello può estrometterti dal gioco. Ecco: Colletti è fatto così, se lo bastoni sulla testa lui prova a picchiare più forte. E allora quella prefazione, che non voleva essere l'elogio di Kim il Sung, è finita come una lenzuolata su Il Foglio di Ferrara.
Provvidenziale? Chissà. Gli chiedo delle prossime elezioni: "Che fai, ti candidi o no?". Pausa: "No, guarda veramente non lo so. Anzi l'unica cosa certa è che io in questo momento sto fermo, non mi agito". Incalzo: ma se lasci il Parlamento che farai? "Mi compro un volpino e vado ai giardinetti", dice provocatorio. La provocazione è innata in Colletti: è un balsamo che lo rigenera, non risparmia niente e nessuno, oserei aggiungere nemmeno se stesso.
Volete una prova di quello che sto affermando? Basta guardare alla sua vita, e se proprio non vi è possibile direttamente, fatelo attraverso il libro di Tambosi: sufficientemente onesto, pedissequo, prevedibile. Ma con una qualità indiscussa: narra di un personaggio che ha fatto di tutto per mascherare la sua disperazione teorica, con quella specie di doppio salto mortale, avvitato a destra, che dalle aule dell'università lo ha proiettato in quelle del Parlamento. Giusto o sbagliato che sia è lì, tra quei grigi scranni che si è consumata la piccola tragedia di un uomo che per una certa fase della vita fu abituato a pensare in grande. Mi riferisco a quei quindici anni che lo videro protagonista indiscusso.
Una lunga stagione - cominciata nella metà degli anni Sessanta - durante la quale egli è passato dall'elogio della democrazia diretta (fatto dalle colonne della rivista La sinistra, da lui fondata e diretta), alle acute analisi sul primo libro del Capitale, alla constatazione tutt'altro che peregrina e in qualche modo convergente con le tesi di Bobbio, che è inesistente una dottrina marxista dello Stato, per la semplice ragione che da Marx a Lenin alle ultime loro propaggini vigeva l'idea che lo Stato andasse estinto.
Non si capirebbe molto delle critiche di Colletti al marxismo, che culmineranno come è noto nelle celebre e definitiva Intervista politico-filosofica del 1974, se non si tenesse a mente il suo percorso lungo il quale privilegia la linea epistemologica che attraverso Aristotele e Kant approderà a Popper, anche se liberato dalle "anarchie metodologiche" di certi suoi allievi. Si tratta di una linea interpretativa adottata contro l'altra che, partendo da Platone, passa per Hegel e approda alla Scuola di Francoforte. Naturalmente stiamo semplificando: ma è, grosso modo, grazie a questo sfondo che Colletti fa i conti con Marx, con i suoi due volti di scienziato e profeta: epigono di Hegel da un lato, erede dell'economia classica dall'altro.
Poche persone in ambito teorico hanno come lui guardato con sospetto all'idea che la realtà fosse un processo soggettivo e che vero è solo ciò che è interiore. E, d'altro canto, non è inutile ribadire qui il ruolo che agli occhi di Colletti ha rivestito la realtà come fenomeno esterno abbordabile attraverso gli strumenti che l'intelletto finito mette a disposizione. L'impressione, insomma, è di trovarci di fronte al viaggio periglioso di uno studioso che da giovane assistente di Ugo Spirito, passando per Galvano Della Volpe, approdò in quella terra desolata che è l'epistemologia contemporanea, con la quale, ormai cinquantenne, costeggiò i grandi temi della scienza. Rottura o continuità rispetto al passato? Ecco un interrogativo che va sfumato. Colletti è stato, almeno sul piano della teoria, un uomo insolitamente coerente. È difficile non vedere - dentro le svolte e le autocritiche - una rotta decisa, un cammino sicuro. D'altro canto egli è sempre stato l'uomo dell'insoddisfazione permanente. Militava nel Partito comunista ma standoci con l'insofferenza dell'intellettuale che non ha rinunciato al giudizio autonomo. All'Università trovava insopportabili gli studenti e noiosi i professori. Al Parlamento non so. Ma anche lì - come nelle fila di Forza Italia - immagino che il nostro si sentirà annoiato, deluso, forse incompreso. Un male oscuro, un'inquietudine radicale, nonostante tutto, mina le fondamenta dell'ex professore di Teoretica. Di che si tratta? Colletti è l'uomo meno reticente che io conosca. Niente in lui è misterioso, oracolare, allusivo. Si direbbe che l'aristotelico principio di non contraddizione qui svolga alla perfezione il suo compito.
Eppure se gli chiedi: "Ma scusa, chi te l'ha fatto fare di finire proprio lì", lui diventa vago, invoca plautinamente la pensione, i conti da pagare, le mogli da assistere, i figli da mantenere. Esce fuori, per intenderci, il lato di Colletti che riguarda il suo rapporto aspro greve e basso con il reale: più Rabelais che Kant; più Belli che Popper. E allora si capisce anche la lunga prefazione (mancata) ai discorsi di Silvio Berlusconi che Il Foglio ha pubblicato. Un intervento tutt'altro che sdraiato. Più che il ritratto di un leader è il racconto di un percorso di guerra fra le due Repubbliche.
Certo, a voler essere cavillosi, spulciando nella quindicina di cartelle, balza agli occhi che Berlusconi è citato una trentina di volte; che viene definito tenace, un leader "che ha bruciato i tempi del suo apprendistato, trasformandosi da grande imprenditore in politico esperto", e che, almeno in un'occasione ha dimostrato "uno scatto della sua fantasia, ai limiti del colpo di genio". Ma a parte certe piccole debolezze oratorie, il tono elegiaco resta molto al di sotto dell'entusiasmo con cui di solito l'entourage di Forza Italia dipinge il suo timoniere. Che sia questo alla base del rifiuto? Se c'è una dote che Colletti non ha mai nascosto è quella di non fare un dramma delle vicissitudini della vita. Come un darwinista del XX secolo ha sempre pensato che la realtà impone selezioni durissime. E che se la stessa specie umana è a rischio, figuriamoci il singolo. Ma da dove nasce quel forte disincanto che sembra avvolgerlo?
Dovete immaginare un uomo che per quarant'anni non ha fatto altro che lavorare su un crinale teorico con determinazione, tenacia, acutezza. E che a un certo punto, pur nella vastità e nella durezza delle analisi, come nel realismo di alcuni protagonisti, egli scorga le fatali contraddizioni che un disegno culturale di tale portata nascondeva. Come un personaggio di Stevenson quell'uomo non ha fatto altro che affondare insieme a quel progetto. Immune alle mode culturali degli anni Ottanta e Novanta - cui ha guardato con sarcastico disprezzo - Colletti ha finito con il chiudersi in una paradossale situazione. Da un lato, come dire?, l'empirista, l'eretico, ha continuato a guardare ai fatti del mondo con lo sguardo dell'uomo moderno che rivela con amarezza l'angoscia che si prova davanti all'insignificanza dell'esistenza umana. Dall'altro, il fescennino, la maschera provocatoria, salace e un po' scurrile, che non arretra davanti al fango della storia, anche più recente. Da un lato Monod e Weber, dall'altro Petrolini e Claudio Villa, reucci di canzoni e di teatro. Non so se esista in giro un personaggio che si possa accostare a Lucio Colletti, ma forse uno c'è stato: Federico Zeri. Credo che pur nella distanza abissale che li separa, quella certa verve corporale della quale entrambi si compiacevano nasconda un dramma simile: la conoscenza non è un balsamo, non consola, porta con sé qualcosa di terribile, una tabe che rende l'uomo nudo e indifeso. E allora tanto vale scherzare, raccontare barzellette, o magari iscriversi a un partito che in un'altra stagione della vita non ci saremmo mai sognati di scegliere.
Ma il tempo passa. Il pensiero se vuole può quasi sempre trovarsi in regola con il passato. Ma il bello è che mai è in perfetto orario con l'avvenire. Quali sorprese ci potrà ancora riservare Colletti?
Perché il marxismo ha fallito (resenha no jornal L'Unità)
Publico aqui a resenha que Bruno Cravagnuolo, do jornal L'Unità - órgão do Partito Democratico della Sinistra, ex-Partido Comunista Italiano -, fez do meu livro Perché il marxismo ha fallito. Lucio Colletti e la storia di una grande illusione (Mondadori, 2001). O texto, publicado em 03/abril/2001, está disponível no site filosófico italiano SWIF (link ao lado).
C'era una volta la dialettica marxista. Versione positivista e popolare della dialettica hegeliana, a sua volta erede della dialettica platonica dei contrari -Uno-Non Uno/Parte-Tutto - da Hegel trapiantata sul piano della storia e convertita in sua molla dinamica. Quella versione, canonicamente presentata come "rovesciamento materialistico" della logica dialettica hegeliana, ebbe ampio corso da fine ottocento in poi. Sino alle tarde propaggini, negli anni settanta in Italia, della scuola dì Geymonat, neopositivista convertito al marxismo. In realtà suo primo e vero propagandista fu non tanto Karl Marx . Bensì Engels. Seguito da Kautsky, Lenin, Bucharin , Stalin e dalla schiera dei filosofi "Diamat", acronimo sovìetíco di "materialismo dialettico", che trovò nel biologo Lysenko il suo capofila. Su tutto questo torna il libro dell'epigono brasiliano dell'ex marxista Lucio Colletti: "Perché il marxismo ha fallito. E' un onesta parafrasi dell'esegesi collettiana di Marx, dalla fede marxista - sulla scia dì Galvano Della Volpe - al suo abbandono venti anni fa. Nell'insieme un capitolo rilevante della cultura filosofica italiana del dopoguerra. Utile a chi quei dibattiti non li ha vissuti né conosciuti, e che svilupparono prima dell'ondata liberale antimarxista dì cui sempre Colletti è stato antesignano. Ma il libro, un po' scolastico, è viziato da un equivoco. Lo stesso che inficia le tesi collettiane su cui si è appiattito. Eccolo: l'idea che Marx fosse un dialettico metafisico. E non, come riteneva all'inizio Colletti, un pensatore "scientifico". Ossia che la sua "dialettica fosse del tutto analoga a quella di Hegel. Dunque totalizzante, magica e naturalistica. Non è così, perché la dialettica dì Marx è solo una maniera di riesporre visualizzare i conflitti della società capitalistica e del mondo storico-sociale. E di risalire, fenomenologicamente, da questi alle "contraddizioni" congelate nella sfera delle forme simboliche. Ovvero della cultura e dell'ideologia, che sublimano il mondo materiale a coscienza.Significa che l'uso della dialettica in Marx ha un valore critico, anche se non assimilabile alle operazioni e ai protocolli delle scienze esatte, che ovviamente respingono ogni conciliazione dialettica degli opposti. Anche le previsioni del Capitale del resto, avevano valore tendenziale, e non dialettico-processuale. E inevitabilmente non inducevano variabili impreviste, come la forza organizzata del movimento operaio che avrebbe mutato a fondo il mercato capitalistico, spingendo molti marxisti - gli stessi che il primo Colletti demoliva- in direzione "revisionistica". Dì tutto ciò altro era consapevole lo storicista Gramsci, attento a non confondere scienze esatte e marxismo. L'errore di Colletti, e del divulgatore Tambosi? E' proprio quello di pensare che Marx credesse ad una filosofia dialettica infallibile, che avrebbe rovesciato l'alienazione economica secondo tappe certe. Laddove si trattava, nella sua parte vitale, dì una sociologia critica attenta ai conflitti materiali e ai loro riflessi nella mente.
C'era una volta la dialettica marxista. Versione positivista e popolare della dialettica hegeliana, a sua volta erede della dialettica platonica dei contrari -Uno-Non Uno/Parte-Tutto - da Hegel trapiantata sul piano della storia e convertita in sua molla dinamica. Quella versione, canonicamente presentata come "rovesciamento materialistico" della logica dialettica hegeliana, ebbe ampio corso da fine ottocento in poi. Sino alle tarde propaggini, negli anni settanta in Italia, della scuola dì Geymonat, neopositivista convertito al marxismo. In realtà suo primo e vero propagandista fu non tanto Karl Marx . Bensì Engels. Seguito da Kautsky, Lenin, Bucharin , Stalin e dalla schiera dei filosofi "Diamat", acronimo sovìetíco di "materialismo dialettico", che trovò nel biologo Lysenko il suo capofila. Su tutto questo torna il libro dell'epigono brasiliano dell'ex marxista Lucio Colletti: "Perché il marxismo ha fallito. E' un onesta parafrasi dell'esegesi collettiana di Marx, dalla fede marxista - sulla scia dì Galvano Della Volpe - al suo abbandono venti anni fa. Nell'insieme un capitolo rilevante della cultura filosofica italiana del dopoguerra. Utile a chi quei dibattiti non li ha vissuti né conosciuti, e che svilupparono prima dell'ondata liberale antimarxista dì cui sempre Colletti è stato antesignano. Ma il libro, un po' scolastico, è viziato da un equivoco. Lo stesso che inficia le tesi collettiane su cui si è appiattito. Eccolo: l'idea che Marx fosse un dialettico metafisico. E non, come riteneva all'inizio Colletti, un pensatore "scientifico". Ossia che la sua "dialettica fosse del tutto analoga a quella di Hegel. Dunque totalizzante, magica e naturalistica. Non è così, perché la dialettica dì Marx è solo una maniera di riesporre visualizzare i conflitti della società capitalistica e del mondo storico-sociale. E di risalire, fenomenologicamente, da questi alle "contraddizioni" congelate nella sfera delle forme simboliche. Ovvero della cultura e dell'ideologia, che sublimano il mondo materiale a coscienza.Significa che l'uso della dialettica in Marx ha un valore critico, anche se non assimilabile alle operazioni e ai protocolli delle scienze esatte, che ovviamente respingono ogni conciliazione dialettica degli opposti. Anche le previsioni del Capitale del resto, avevano valore tendenziale, e non dialettico-processuale. E inevitabilmente non inducevano variabili impreviste, come la forza organizzata del movimento operaio che avrebbe mutato a fondo il mercato capitalistico, spingendo molti marxisti - gli stessi che il primo Colletti demoliva- in direzione "revisionistica". Dì tutto ciò altro era consapevole lo storicista Gramsci, attento a non confondere scienze esatte e marxismo. L'errore di Colletti, e del divulgatore Tambosi? E' proprio quello di pensare che Marx credesse ad una filosofia dialettica infallibile, che avrebbe rovesciato l'alienazione economica secondo tappe certe. Laddove si trattava, nella sua parte vitale, dì una sociologia critica attenta ai conflitti materiali e ai loro riflessi nella mente.
Assinar:
Comentários (Atom)