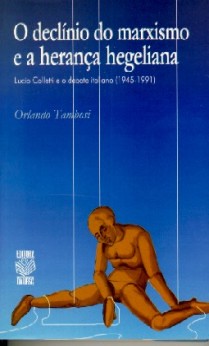Preconceitos cercam a "árvore de direita"
RICARDO BONALUME NETO
DA REPORTAGEM LOCAL
Os coalas ficariam indignados se soubessem o que a esquerda brasileira está falando do eucalipto, cujas folhas são sua principal fonte de alimentação. Os simpáticos bichinhos peludos australianos talvez até fundassem uma organização não-governamental para gritar estridentemente suas opiniões. Talvez optassem pelo vandalismo, como certas ONGs.
Acreditem, coalas: a bela e altaneira árvore nativa da Austrália foi tachada de "árvore de direita", e suas florestas no Brasil foram apodadas de "desertos verdes". Essa curiosa visão do universo arbóreo foi a justificativa para que mulheres alucinadas da ONG Via Campesina vandalizassem em março instalações da Aracruz Celulose, em Barra do Ribeiro (RS).
"Somos contra os desertos verdes, as enormes plantações de eucalipto, acácia e pinus para celulose, que cobrem milhares de hectares no Brasil e na América Latina. Onde o deserto verde avança, a biodiversidade é destruída, os solos se deterioram, os rios secam, sem contar a enorme poluição gerada pelas fábricas de celulose que contaminam o ar, as águas e ameaçam a saúde humana", diz o manifesto das senhoras.
Até que ponto elas têm razão -e essa árvore, que se acredita ter sido primeiro introduzida no Brasil em 1868, é de fato um grotesco símbolo do "neoliberalismo", o nome novo que a esquerda dá ao velho capitalismo?
O eucalipto, que foi por um tempo vilão ambiental dos verdes menos esclarecidos, estaria voltando a ser malvado e adentrando o panteão maldito da esquerda, onde estão Coca-Cola, Big Mac e soja transgênica?
"Deserto verde é duplamente errado. Deserto é onde não chove. Se é verde, não pode ser deserto", diz, com a paciência típica dos cientistas que vivem às voltas com mitos, o pesquisador Walter de Paula Lima, um dos maiores conhecedores do eucalipto na comunidade científica brasileira.
Ele começou a estudar essa árvore já em 1972, quando começou sua carreira acadêmica como auxiliar de ensino no então Departamento de Silvicultura da Esalq-USP (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo), em Piracicaba -a mais prestigiosa escola brasileira de agronomia.Walter Lima é especialista em hidrologia florestal, o uso de água pelas florestas. Um mito acalentado pelos verdes e agora pelos vermelhos pouco esclarecidos é a voracidade do eucalipto por água, cujas plantações seriam capazes de secar rios, lagos, mananciais.
Havia quem dizia que uma árvore de eucalipto usava 360 litros de água por dia. Um absurdo, que foi depois modificado para 30 litros na propaganda antieucalipto. O valor real máximo é 15 litros, diz o professor da Esalq; e só em certas épocas do crescimento, e certas épocas do ano, e para árvores plantadas no padrão tradicional de reflorestamento, uma para cada seis metros quadrados.
Há árvores nativas brasileiras com consumo parecido, dependendo também das circunstâncias. O cientista acha estranho criticarem o eucalipto por afetar a biodiversidade. Qualquer plantação agrícola -de soja ou de café de um latifundiário do agrobusiness, um roçadinho de feijão ou mandioca de agricultura de subsistência- é um ataque à variedade natural de espécies vegetais que existiam no terreno.
A única alternativa a isso seria banir a agricultura da face da Terra -mas, para isso, a população do planeta teria de diminuir de 6 bilhões para no máximo uns 50 ou 100 milhões, se tanto, catando frutinhas no mato "biodiverso".
Mas, dizem os nacionalistas silvícolas, por que não usar árvores nativas em vez do neoliberal eucalipto? Charles Darwin e sua teoria da evolução explicam.
As plantas , árvores e arbustos brasileiros nativos coevoluíram com suas pragas, faz milhões de anos. Criar uma floresta só de embaúba, uma bela árvore de crescimento rápido, seria criar um belo repasto para as pragas locais -a não ser que fossem neoliberalmente enxarcadas de inseticidas.O eucalipto, ao ser transplantado para cá, poderia ter virado fast food das pragas ou ser imune a elas. Ganhou a segunda opção. A árvore se deu bem, cresce rápido e virou estrela de exportação.
Mais irônico ainda: os tais "eucalipto, acácia e pinus para celulose" criticados pelas neovândalas cumprem seu papel de preservar as matas nativas de virarem papel. Quem vai querer transformar a mata atlântica em papel, se é muito melhor fazer isso com essas árvores de crescimento rápido?
Publicado na Folha de S. Paulo, edição de 30/04/2006.
30.4.06
27.4.06
Blog enquadrado na Lei de Imprensa

A reportagem que aqui reproduzo na íntegra foi publicada na edição de 25 de janeiro de 2006 pelo Diário Catarinense, de Florianópolis. Seguem-se, abaixo, a resenha do professor Roberto Romano e o Direito de Resposta invocado pelo historiador Moniz Bandeira com base na Lei de Imprensa.
Cultura
Blog do Tambosi foi enquadrado
Site de professor sofreu ação com base na Lei de Imprensa
FELIPE LENHART
O semanário CartaCapital dessa semana publica um artigo do sociólogo José Luís Fiori sobre A Formação do Império Americano (Civilização Brasileira, 854 págs., R$ 89), de Luiz Alberto Moniz Bandeira. O texto credita ao livro uma contribuição aos estudos das raízes da política externa norte-americana, desde o século 19.
Outra resenha, nada favorável, foi publicada em dezembro de 2005 na revista Primeira Leitura, com a assinatura do filósofo Roberto Romano, e causou uma retaliação jurídica da parte do autor contra a publicação. As conseqüências dessa pendenga, que era para ser intelectual e virou caso de Justiça, chegaram ao blog do professor Orlando Tambosi, de Florianópolis, que se tornou o primeiro do Brasil a ser enquadrado na Lei de Imprensa.
O caso é o seguinte: Tambosi reproduziu, com permissão, a resenha de Romano em seu blog, após a publicação na revista. Como Moniz Bandeira se sentiu "ultrajado" (veja box), exigiu que a revista lhe concedesse direito de resposta, e assim de Tambosi. A revista não lhe reconheceu o direito, por considerar que não era cabível, e comprou a briga. Tambosi publicou, até porque, brinca, não tem "nem o estofo nem o dinheiro" da revista para uma empreitada judicial.
- Eu achei muito estranha essa cobrança com a Lei de Imprensa. Até porque, como escrevi no blog ao publicar a resposta do Moniz, que é um intelectual respeitável, eu publicaria o texto sem problemas, se ele me pedisse. Acho que essa é a primeira vez que se evoca essa lei contra uma resenha - afirma Tambosi.
Segundo o professor, Romano lhe enviou o texto em fins de novembro de 2005, quando recém o blog aparecera. O filósofo é amigo pessoal de Tambosi, a quem deu aulas no início da década de 1990 na Unicamp, nas cadeiras de Filosofia Política e Filosofia e Ética. Tambosi dá aulas em disciplinas de graduação e pós-graduação do Curso de Jornalismo da UFSC.
- O Romano me enviou o artigo, e também para a Primeira Leitura, com permissão para publicá-lo. Eu segurei, até em respeito à revista, para que não se criasse um clima ruim ou que me acusassem de ter publicado antes - diz Tambosi.
O professor criou o blog quando a greve das federais estourou, em setembro, para, nas suas próprias palavras, "não fazer também greve intelectual". Ainda conforme ele, nunca precisou deletar sequer um comentário de internauta, deixando o debate de idéias sempre aberto e acessível.
Por ironia, nome inicial do site era O Iconoclasta.
A ironia é que o blog nasceu intitulado O Iconoclasta, sendo aquele que "ataca crenças estabelecidas ou instituições veneradas ou que é contra qualquer tradição". Depois, mudou para Blog do Tambosi, pois o professor constatou que há muitos sites com esse nome, a "maioria sem saber o que isso significa", diverte-se.
Mas, no dia 5 desse mês, recebeu um e-mail diferente dos que costuma receber todos os dias.
- Era uma carta da Noronha Advogados, me exigindo "direito de resposta", em espaço equivalente ao que eu tinha dado ao artigo do Romano. Eu me aconselhei com alguns amigos, consultei o texto da lei, que me dava 24 horas, e publiquei a resposta - afirma Tambosi.
Para o professor de jornalismo, que nessa história está do lado de Romano, com quem concorda, mas que diz respeitar Moniz Bandeira, de quem lamenta a "atitude", a lei já deveria ter sido revista.
- Eu gostaria até que se discutisse a revisão dessa lei, que é uma daquelas coisas que se chama de "entulho da ditadura". E o absurdo é que não se trata de um pessoa, mas de um livro! O debate deveria ser retomado. Acho que já existe algo nesse sentido, mas deve estar "dormindo" em alguma gaveta. O debate deveria ser centrado no direito de resposta, já que injúria, calúnia e difamação já são tratados no código penal - diz Tambosi.
( mailto:felipe.lenhart@diario.com.br)
***************
O que diz o advogado.
- Romano faz alusão à "suposta complacência" de Moniz Bandeira "para com a ideologia pregada na Alemanha Nazista", mas omite trechos em que Moniz Bandeira ataca o nazismo;
- Romano busca "maldosamente deslegitimar a posição" de Moniz Bandeira, que diz que o governo dos EUA contribuiu para o acontecimento do 11 de Setembro, sem dizer que a pesquisa de Moniz Bandeira "foi baseada nos estudos de diversos acadêmicos estrangeiros";
- Romano busca, em algumas passagens, "ridicularizar Moniz Bandeira e o seu trabalho", "ultrapassando os limites da crítica literária e científica e saudável";
- O artigo de Romano foi abusivo "à honra e à reputação" de Moniz Bandeira, visto que "colocações distorcidas acerca de seu trabalho foram levadas a conhecimento do grande público".
***************
A Lei de Imprensa
Art. 29 - Toda pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade pública, que for acusado ou ofendido em publicação feita em jornal ou periódico, ou em transmissão de radiodifusão, ou a cujo respeito os meios de informação e divulgação veicularem fato inverídico ou errôneo, tem direito a resposta ou retificação.
(...)
Art. 30 - O direito de resposta consiste:
I - na publicação da resposta ou retificação do ofendido, no mesmo jornal ou periódico, no mesmo lugar, em caracteres tipográficos idênticos ao escrito que lhe deu causa, e em edição e dias normais;
(...)
§ 1º - A resposta ou pedido de retificação deve:
a) no caso de jornal ou periódico, ter dimensão igual à do escrito incriminado, garantido o mínimo de 100 (cem) linhas;
(...)
Art. 31 - O pedido de resposta ou retificação deve ser atendido:
I - dentro de 24 horas, pelo jornal, emissora de radiodifusão ou agência de notícias;
(...)
Art. 32 - Se o pedido de resposta ou retificação não for atendido nos prazos referidos no artigo 31, o ofendido poderá reclamar judicialmente a sua publicação ou transmissão.
**************
25.4.06
Uma fábula hegeliana

Texto publicado originalmente no Blog do Tambosi.
Roberto Romano, professor de Filosofia política e ética da Unicamp, analisa as idéias de Moniz Bandeira (Luiz Alberto), professor titular aposentado de História da Política Exterior do Brasil na Universidade de Brasília e autor de várias obras sobre as relações dos EUA com o Brasil e os demais países da América Latina, entre as quais O Governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil - 1961-1964, e De Martí a Fidel: a revolução cubana e a América Latina. Romano aborda especificamente o último livro de Moniz Bandeira, Formação do império americano: da guerra contra a Espanha à guerra do Iraque (Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005). Bandeira, que se considera ao mesmo tempo "hegeliano" e "cientista", é figura apreciada no Itamaraty terceiro-mundista do governo Lula. Não esconde seu antiamericanismo vulgar - em favor do qual chega a brandir teorias conspiratórias em relação ao 11 de setembro -, é indulgente com Hitler e acusa os Estados Unidos de tentarem impor uma ditadura planetária. Eis aí, argumenta Romano, "uma perigosa coincidência entre a tese central do livro em pauta e o discurso totalitário: os EUA querem impor uma ditadura sem limites ao mundo."
O artigo do professor Roberto Romano, aqui publicado com autorização do autor, está na edição de dezembro da revista Primeira Leitura. (Na ilustração, o sisudo filósofo idealista alemão G.W.F. Hegel [1770-1831], que ainda tem seguidores no BR).
A FORMIGA QUE MARCHAVA CONTRA O IMPÉRIO.
UMA FÁBULA HEGELIANA.
Francis Bacon distinguia entre formas lucíferas e frutíferas de pesquisa. As primeiras, por atingir paragens elevadas do intelecto, levam à ciência. As segundas perdem importância na hora do consumo. Paolo Rossi (1) recorda as imagens usadas pelo suposto empirista para descrever os vários tipos de intelecto. Em primeiro, acadêmicos formiga: recortam dados indefinidamente sem processá-los no pensamento. Depois chegam os aranha que tecem silogismos sem base efetiva no mundo. Como descartaram os dados, eles vivem suspensos em sistemas filosóficos. Finalmente, com base em Platão e poetas como Horácio, vem o pesquisador abelha que recolhe o néctar das flores (os dados), o elabora e entrega um belo e alimentício produto, o mel.
Os “sábios” europeus e seus herdeiros desprezam a filosofia anglo-saxã. Esquecem a lição de I. Kant, cuja honestidade proclama que sem Hume o sono dogmático dominaria a sua mente. Não por acaso Bacon é citado na Critica da Razão Pura: “calamos sobre nós mesmos, falamos sobre as coisas”. Hegel é um charlatão a mais a espalhar preconceito contra a cultura inglesa. O mesmo Hegel, no seu doutoramento, errou uma citação essencial de Newton (2) mas disse sem pudor algum : “Newton é pensador tão bárbaro no plano conceitual que, à semelhança de outro inglês, se espantou ao descobrir que falava em prosa. Quando imaginava manipular coisas físicas, Newton não tinha consciência de usar conceitos”(3).
Luiz Alberto Moniz Bandeira se proclama hegeliano. Dados os elementos acima, acredito. Ele afirma ser preciso “penetrar no âmago dos acontecimentos, conhecer a causa e a essência dos fenômenos, o que é real e racional por trás da aparência”. O jargão escolástico foi dado. Vejamos as conseqüências. Bandeira segue a lógica do mestre, aplicando-a sem cautelas ao mundo histórico. Aliás, trata-se de um estranho hegelianismo que amontoa fatos empíricos e teses a priori, sem que os dois elementos se unam. Em muitas páginas o autor mimetiza a formiga baconiana e acumula dados, mas não os pensa. Ao mesmo tempo, insiste em esquemas paranóides que anunciam uma indemonstrada “ditadura mundial do capital financeiro”. E a salada empírico-transcendental vem recheada de “denúncias” que, sem exagero, atribuem ao governo norte-americano plena cumplicidade com o ataque de 11/setembro. Essas histórias fantásticas recordam invenções como o Protocolo dos Sábios de Sião. Mas vamos por partes. O livro começa errando e termina do mesmo jeito. Nele se fala em “fundamentalismo” dos founding fathers americanos. Ignorância pura. Se tivesse lido uma linha dos ditos senhores, Bandeira saberia que eles estudavam teologia em bases tão rigorosas quanto as obedecidas pelos teóricos europeus. A filosofia, a teologia, a retórica, a lógica de Petrus Ramus, a panóplia conceitual sofisticada movida por eles, tudo somado a um saber científico e literário de fazer inveja à Sorbonne, mostram que de “fundamentalistas” eles nada possuem (4). Caso oposto, inexistiriam as universidades norte-americanas produtoras de amplos saberes científicos, técnicos, humanísticos. Mas não se espera sutileza teológica de alguém que escreve ser Jesus apologista do “não pagamento de tributo ao César”. Erro feio demais para ser apenas erro(5). O autor, para fundamentar sua “tese” sobre o terror (6), apela com singeleza a certo Cristo inscrito na guerrilha e …no terror “libertário”. Assim fala o hegeliano: se os dados históricos e textuais negam a lógica assumida, danem-se eles.
ANTIAMERICANISMO
Bandeira assume o mais vulgar antiamericanismo, e cita oráculos franceses que descrevem os EUA como “esse povo do qual todas as forças vivas são dirigidas pelo excesso no crescimento indefinido dos bens materiais” (Joseph Patouillet, 1904). Se é para catar preconceitos, porque não descer à base do etnocentrismo europeu defendido por De Pauw ? Este, nas Pesquisas sobre os Americanos (7), afirma serem podres o povo e a terra daquele continente. Mas a lógica hegeliana é conhecida por seus truques. Bandeira, bom hegeliano, transforma “a parte” num todo. Ele cita Aron, para quem os norte-americanos possuem “uma parte da responsabilidade no desencadeamento da guerra dupla no Atlântico e no Pacífico”. Daí, o autor passa ao “notável” Gore Vidal (retórica das seitas: os “nossos” são notáveis, os “outros” recebem adjetivos impublicáveis) : “hoje, ninguém nega com seriedade que Roosevelt queria a guerra dos EUA contra Hitler”. Para mim, se Hitler declarasse guerra ao inferno, eu também me aliaria ao diabo. Mas para Bandeira, não. A beligerância contra Hitler é crime. Ele cita Hitler com indulgência, num discurso contra “a ilimitada ditadura mundial norte-americana”(8). Encontra-se aí uma perigosa coincidência entre a tese central do livro em pauta e o discurso totalitário: os EUA querem impor uma ditadura sem limites ao mundo.
Hitler é citado pelo autor como personagem neutro. Semelhante técnica de citação chega a ser escandalosa. Veja-se a seguinte seqüência: “Hitler considerou um ´trágico encadeamento´(eine tragische Verkettung), um ´infeliz acaso histórico´(ein unglücklicher geschichtlicher Zufal) o fato de que sua ascensão ao poder na Alemanha ocorreu quando ´o candidato do mundo judaico´(der Kandidat des Weltjudentums), Roosevelt, assumiu o governo da Casa Branca”. No juízo do hegeliano só está errado nesta série de frases o fato de que “Hitler se precipitou”, nada mais. Ao expor a fabricação de armas, Hitler é novamente citado num discurso como alguém que só denuncia os instrumentos letais nas mãos norte-americanas. Em passagem rápida a “política” nazista é referida com as suas “enormes atrocidades”. Mas logo o autor tira a lição silogística: se Hitler dizimou o povo russo, este “logicamente” apoiou Stalin e a sua tirania.
Num texto que defende a tese de uma ditadura mundial maquinada pelos EUA e onde o leitor é forçado a topar com certo Hitler estadista sóbrio, é no mínimo bizarro que o autor cale quase tudo o que se relaciona com o tema jurídico da ditadura, os debates sobre o artigo 48 da Constituição de Weimar (9). O dilema do autor, com tal silêncio, é claro: se os EUA têm uma Constituição democrática, neles não haveria a legalidade da qual se beneficiou Hitler. Se os EUA seguem para uma ditadura nos moldes do artigo 48 (existem pessoas que pensam desse modo), então aprenderam com a Alemanha. E seria preciso, para denunciar o imperialismo yankee, descer ao parentesco com a “civilizada” Alemanha.
Quando se fala em “império” e “ditadura mundial”, tais asserções entram na polissemia lingüistica, elas não brotam de “fatos” a exemplo de Minerva da cabeça jupiteriana. É preciso interpretar documentos e dados com óptica plural. Em pontos delicados assim, o preceito da justiça é imperativo: quem julga tem o dever de ouvir a outra parte. Não se encontra um norte-americano defensor de sua terra e gente, nas oitocentas páginas do calhamaço. Fico no caso mais notório, pois trata-se de um filósofo especialista em estratégica militar. Trata-se de Victor Davis Hanson(10). Além dos que dizem cobras e lagartos dos EUA, ralas são as referências aos seus defensores idôneos. Todo país possui valores negativos e positivos. Mas o autor afirma trabalhar sine ira et studio e que não faz reflexão ética, só expõe uma cadeia de fatos. É preciso dizer que, entre os fatos a serem levados em conta pela razão científica, em se tratando de política e não de matemática ou física (e mesmo aí Hegel errou…), a boa lógica exige o exame dos arrazoados trazidos pelos que defendem o campo “inimigo”.
Outros equívocos, agora de leitura filosófica, surgem ao longo do livro. Todo estudante de primeiro ano conhece a passagem da Fenomenologia do Espírito sobre “o Reino animal do Espírito”. Baseando-se numa leitura não provável de Marx, Bandeira reduz o significado daquele trecho, jogando-o totalmente sobre a sociedade de mercado e para a concorrência. Hegel era tosco, mas nem tanto. A seqüência inteira é dirigida aos intelectuais, parte essencial das Luzes. Para quem analisa a ditadura mundial estadunidense talvez o erro seja pequeno. Mas para um hegeliano…
Em suma: em tedioso agenciamento de números, documentos e discursos, como diligente intelectual formiga, o autor exibe sua riqueza, a qual constrasta com a miséria de uma ideologia raivosa que não hesita em repetir slogans anti-semitas ao discorrer sobre o Partido Democrático, além de outras repetições de enunciados totalitários cujo lugar deveria ser debaixo do rio chamado Esquecimento. Bandeira se proclama hegeliano e nele acredito. Ele também diz só levar em conta “os fatos, como cientista”, abandonando todo esforço axiológico. Assim, os “fatos” terroristas são coletados como se fossem apenas… fatos. Mas eles expressam juízos de valor e definem uma prática covarde de intimidação, ao jogar sociedades inteiras na morte aninhada nos ventres fanáticos. Sim, Bandeira é hegeliano e diz levar em conta os fatos. “Mas quem aprendeu antes a curvar as costas e inclinar a cabeça diante da ´potência da história´, acaba acenando mecanicamente, à chinesa, seu ´sim´a toda potência, seja esta um governo ou uma opinião pública ou maioria numérica, e movimenta seus membros no ritmo preciso com o qual alguma ´potência´puxa os fios. Se todo sucedido contém em si uma necessidade ´racional´, se todo acontecimento é o triunfo do lógico ou da ´Idéia´ —então, depressa, todos de joelhos e percorrei ajoelhados toda a escada dos ´sucedidos´! Como, não heveria mais mitologias reinantes? Como, as religiões estariam à morte? Vede apenas o religião da potência histórica, prestai atenção nos padres da mitologia das Idéias e em seus joelhos esfolados” (Considerações Extemporâneas). Nietzsche falava, nestas frases, dos hegelianos. Enquanto eles, agora, apresentam a imagem mais horrenda dos EUA, “inclinam a cabeça à chinesa”, literalmente. Na cena mundial, depois do nazismo e da URSS, sobraram os EUA, a UE e a China. Não aposto um centavo para saber em qual país Bandeira enxerga razões para solapar o Estado norte-americano. Não gosto de inclinar a espinha diante da História, mesmo ainda contada no padrão idealista.
NOTAS
1) "Ants, Spiders and Epistemologists", in Francis Bacon, Seminario Internazionale, ed. Marta Fattori, Roma, 1984.
2) “Quando Hegel cita a definição quinta dos Principia de Newton como uma definição da força centrífuga, seu erro tem graves consequências pois invalida quase toda a crítica de Newton feita por ele; o mais incômodo é que ninguém notou o erro no ato e Hegel repetiu publicamente o mesmo erro (por exemplo na Encliclopédia das Ciências Filosóficas, § 266) até o fim da vida”. De Gandt, F: “Introdução” à edição da tese De orbitis planetarum (Paris, Vrin, 1979), p. 47.
3) Leitor amigo: se deseja rir mais, abra as Lições sobre a História da Filosofia no item “Newton”. Cito na edição seguinte: Werke in zwanzig Bänden (FAM, Suhrkamp, 1975), III, p. 231. Hegel inicia o método Chaui de leitura científica.
4) Da imensa bibliografia, cito apenas Miller, Perry: The Americans Puritans, their prose and poetry. (NY, Doubleday, 1956) e The New England Mind. The Seventeenth Century (Boston, Beacon, 1968).
5) Pergunta: Licet censum dare Caesari, an non?. Resposta: Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari: et quae sunt Dei, Deo. (Mateus, 22, 17-21).
6) A benção ao terror repete-se, como cantilena, em muitas passagens : “…quando as grandes potências desprezam a força do Direito e impõem o direito da força, os povos mais fracos, oprimidos, são levados a recorrer ao terrorismo, como ferramenta de luta, no processo de insurgência”, “no curso da história, o terrorismo serviu como a arma dos mais fracos, com o objetivo de quebrar o monopólio da violência exercida pelo Estado e, no mais das vezes, identificou-se com a insurgência, o método da guerrilha”, e outras jóias de mesmo quilate.
7) C. De Pauw, Recherches philosophiques sur les Américains, 1774. O texto pode ser lido na edição eletrônica Gallica da Biblioteca Nacional da França.
8) O termo germânico é preciso: “…unbegrenzte Weltherrschaftsdiktatur”. Discurso de Hitler em 11/12/1941.
9)"Caso a segurança e a ordem públicas forem seriamente (erheblich) perturbadas ou feridas no Reich alemão, o presidente do Reich deve tomar as medidas necessárias para restabelecer a segurança e a ordem públicas, com ajuda se necessário das forças armadas. Para este fim ele deve total ou parcialmente suspender os direitos fundamentais (Grundrechte) definidos nos artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124, and 153."
10) Cf. Carnage and Culture (Anchor/Vintage, 2002), tradução com o título de Porque o Ocidente Venceu. Massacre e cultura- da Grécia antiga ao Vietnã (RJ, Ediouro, 2001). O autor publicou muitos outros livros e artigos sobre a Grécia antiga e a Guerra, incluindo a questão da democracia. Dentre os mais importantes, listo os seguintes: Warfare and Agriculture in Classical Greece (Ed. University of California Press, 1998); The Western Way of War (University of California Press, 2000); Hoplites: The Ancient Greek Battle Experience (Routledge, 1992); The Other Greeks: The Family Farm and the Agrarian Roots of Western Civilization (Ed. University of California Press, 2000); Fields without Dreams: Defending the Agrarian Idea (Ed. Touchstone, 1997); The Land Was Everything: Letters from an American Farmer (Free Press, 2000); The Wars of the Ancient Greeks (Cassell, 2001); The Soul of Battle ( Anchor/ Vintage, 2000); An Autumn of War (Anchor/Vintage, 2002); e Mexifornia: A State of Becoming (Encounter, 2003).
COMENTÁRIO: este ensaio, por força da Lei de Imprensa, invocada pelo prof. Moniz Bandeira, tem réplica publicada abaixo, como DIREITO DE RESPOSTA.
Direito de resposta (Uma fábula hegeliana)
Noronha Advogados, com filiais em diversos países, representando o professor Luiz Alberto Moniz Bandeira, requer direito de resposta, com base no Art. 30 e segs. da Lei de Imprensa (Lei 5.250, de 09/02/1967), a artigo publicado neste blog, sob o título "Uma fábula hegeliana", de autoria do professor Roberto Romano - e por cortesia do próprio autor, a quem novamente agradeço. O mesmo artigo foi publicado também na edição de dezembro da revista Primeira Leitura. Este escrevinhador só lamenta que o professor Moniz Bandeira tenha se valido da Lei de Imprensa para exigir réplica. Dentro do espírito acadêmico e de livre debate intelectual que rege este blog (que não é anônimo, não esconde e-mail e jamais precisou cortar ou "deletar" um comentário sequer), nada precisaria exigir: publicá-lo-ia, com prazer, por um simples pedido, como convém a um colega dessa ingrata profissão.
Resposta a Roberto Romano
Resposta ao artigo “A formiga que marchava contra o império: uma fábula hegeliana", publicado na Edição 46, de dezembro de 2005, da Revista Primeira Leitura e no “Blog do Tambosi” em 10 de dezembro de 2005.
Roberto Romano, em seu artigo “A formiga que marchava contra o império: uma fábula hegeliana”, publicado em Primeira Leitura, Edição 46, dezembro de 2005, estabeleceu uma vinculação abusiva e capciosa, narrando fatos inverídicos e errôneos, de caráter ultrajante contra a minha pessoa e o meu trabalho, o que traz claras conseqüências jurídicas.Ao escrever que em Formação do Império Americano faço “denúncias” que, ‘sem exagero, atribuem ao governo norte-americano plena cumplicidade com o ataque de 11/setembro’” e que “essas histórias fantásticas recordam invenções como o Protocolo dos Sábios de Sião”, ele faz uma vinculação capciosa. O que Romano chama de “denúncias” sobre a cumplicidade (o adjetivo “plena” é da sua lavra) são acusações levantadas não por mim, mas por diversos autores norte-americanos, nos EUA, onde têm sido publicadas inúmeras obras sobre o assunto, sobre as quais me baseei e que Romano, na sua ignorância, desconhece. Quem quiser que consulte algumas dessas obras: Eric D. Williams. The Puzzle of 9-11 – An investigation into the events of September 11, 2001, and why the pieces don’t fit together; A Pretext for War : 9/11, Iraq, and the Abuse of America's Intelligence Agencies, de James Bamford; The 9/11 Commission Report: Omissions And Distortions, David Ray Griffin; 9/11 Revealed. The Unanswered Questions, de Rowland Morgan e Ian Henshall; Conspiracies, Conspiracy Theories and the Secrets of September 11, de Mathias Broecker, que vendeu mais de 100.000 exemplares nos Estados Unidos; Worse than Watergate. The Secret Presidency of George W. Bush, de John W. Dean, ex-assessor do presidente Richard Nixon¸ The New Pearl Harbor: Disturbing Questions About the Bush Administration and 9/11, do respeitado teólogo David Ray Griffin; Inside Job: Unmasking the Conspiracies of 9/11, de Jim Marrs; e Cover Up : What the Government Is Still Hiding About the War on Terror, de Peter Lance.
Essas são algumas de mais de uma dezena de obras sobre o assunto, publicadas nos Estados Unidos e na Inglaterra e nas quais os autores sustentam que os atentados de 11 de setembro de 2001 foram facilitados pela administração de George W. Bush para justificar a deflagração da guerra contra o terrorismo, a guerra permanente, e executar The Project for the New American Century. Isso nada tem a ver com o Protocolo dos Sábios do Sião, uma falsificação de caráter anti-semita, feita pela Okhrana, polícia secreta da Rússia tsarista, que culpa os Judeus pelos males do país, acusando uma cabala secreta judaica de conspirar para conquistar o mundo. No caso dos atentados de 11 de setembro, há apenas um informe de que o Mossad e o serviço de inteligência da França teriam advertido à CIA e ao FBI sobre a ameaça, e uma hipótese não confirmada sobre a possibilidade de que o Mossad teria ajudado para provocar uma onda de indignação contra os muçulmanos. Porém, o que há de concreto, comprovado pela National Commission on Terrorists Attacks Upon de United States, foi que, além de várias e outros fatos, inclusive o Projeto Bojinka descoberto em 1994, George W. Bush soube, através do top-secret Presidential Daily Brief memorandum, intitulado “Bin Laden Determined to Strike in U.S”, com a informação do agente Phoenix (Kenneth Williams[1]), dizendo que
“We have not been able to corroborate some of the more sensational threat reporting, such as that from a ... (redacted portion) ... service in 1998 saying that Bin Ladin wanted to hijack a US aircraft to gain the release of "Blind Shaykh" 'Umar 'Abd al-Rahman and other US-held extremists. Nevertheless, FBI information since that time indicates patterns of suspicious activity in this country consistent with preparations for hijackings or other types of attacks, including recent surveillance of federal buildings in New York .”
A conclusão de que os atentados de 11 de setembro poderiam ser evitados não é somente minha, mas de diversos autores americanos e ingleses. Roberto Romano, portanto, falseia, deliberadamente, o conteúdo da obra. Em outra passagem do seu artigo ele diz que cito Hitler “com indulgência”, num discurso contra “a ilimitada ditadura mundial norte-americana”. Segundo Romano, “encontra-se aí uma perigosa coincidência entre a tese central do livro em pauta e o discurso totalitário: os EUA querem impor uma ditadura sem limites ao mundo”. Romano omite deliberadamente que várias vezes demonstrei como Hitler manipulou o espectro do terrorismo, após o incêndio do Reichstag por um demente acusado de comunista e encorajado pelos próprios os nazistas, e que, ao final da obra eu advirto:
“A ameaça que se descortinava nos Estados Unidos consistia exatamente na implantação de uma ditadura, sustentada pelo complexo industrial-militar, mediante a contínua disseminação do medo, making fears, e a manipulação de permanente estado de guerra, a guerra sem fim contra o espectro do terrorismo, como rationale para crescente restrição das liberdades e dos direitos civis, dentro dos próprios marcos da Constituição, como começou a acontecer com o estabelecimento do USA Patriot Act. Foi assim que Hitler, a manipular, igualmente, o espectro do terrorismo, o incêndio do Reichstag, instituiu o III Reich, a mais cruel tirania, só comparável à de Stalin na Rússia, sem revogar sequer uma linha da Constituição de Weimar” (Formação do Império Americano, p. 795)
Não há nenhuma indulgência ao qualificar o III Reich como “a mais cruel tirania, só comparável à de Stalin na União Soviética”. O que não posso é falsificar a história, dizendo que Hitler queria a guerra com os Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos no conflito da Europa era exatamente o que ele temia, e por isso evitou tanto quanto pôde as provocações, porque sabia que a Alemanha seria derrotada. Mas se precipitou ao perceber a inevitabilidade do conflito. É um fato histórico.
Romano, entretanto, é indulgente com George W. Bush, procurando inocentá-lo, sem mencionar que, em 3 de junho de 1997, um grupo composto por Jeb Bush, governador da Flórida e irmão do presidente, então governador do Texas, Dick Cheney, Francis Fukuyama, o teórico do fim da história, I. Lewis Libby, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld e mais alguns neocons, vinculados ao American Enterprise Institute, Hudson Institute e outros think tanks, lançou o Project for the New American Century (PNAC). Seu programa consistia em aumentar os gastos com defesa, fortalecer os vínculos democráticos e desafiar os “regimes hostis aos interesses e valores” americanos, promover a “liberdade política” em todo o mundo, e aceitar para os Estados Unidos o papel exclusivo em “preservar e estender uma ordem internacional amigável (friendly) à nossa segurança, nossa prosperidade e nossos princípios”.
Com essa doutrina George W. Bush buscou derrubar um dos fundamentos do moderno Direito Internacional, segundo o qual o emprego da força só seria permitido em defesa própria, para enfrentar ameaças reais, não potenciais, mas não como ação preventiva e antecipada. E, ao “the war on terror will not be won on the defensive”, revelou sua intenção de mover uma guerra permanente, a fim de manter, ampliar e consolidar a hegemonia dos Estados Unidos, sobre todas as regiões, e impor a pax americana, encorajando “free and open societies on every continent”. E, sem qualquer ambigüidade, aduziu: “The requirements of freedom apply fully to Africa and Latin America and the entire Islamic world”. Os Estados Unidos decidiram assim derrogar unilateralmente os princípios da soberania nacional e da não-intervenção nos assuntos internos de outros países, acordados no Tratado de Westphalia, de 1648. E George W. Bush, com o objetivo de racionalizar as guerras, que pretendia desencadear, oficializou a doutrina dos “pre-emptive attacks”, em documento de 33 páginas – The National Security Strategy of the United States of América – divulgado em 17 de setembro de 2002. Não se trata, pois, de impor uma ditadura mundial?
Romano diz que assumo “o mais vulgar anti-americanismo” e omite que me refiro aos Estados Unidos como “uma sociedade extraordinariamente complexa, dinâmica e rica em contradições internas”, com “elevadíssimo desenvolvimento científico e tecnológico, do alto nível de suas universidades” e que “não se pode desconhecer o contributo da revolução na América – a guerra da independência das treze colônias (1776-1783) – à cultura democrática, que terminou por influir sobre a Revolução Francesa de 1789-1793 e que há nos Estados Unidos uma plêiade de brilhantes acadêmicos, intelectuais e jornalistas, que não se cansam de denunciar e criticar as mazelas da sociedade e da política interna e externa dos Estados Unidos. Eles têm escrito e publicado obras das mais lúcidas, criticando a política doméstica e a política exterior dos Estados Unidos, particularmente com respeito ao golpe de Estado no Irã (1953), à invasão da Guatemala (1954), e da Baía dos Porcos (Cuba, 1961), aos golpes militares no Brasil (1964) e no Chile (1973), à guerra no Vietnã etc.” (Formação do Império Americano, p. 25). Quem prefacia o livro é, inclusive, uma politóloga dos Estados Unidos, Jan K. Black, do Monterey Institute of International Studies, da Califórnia.
Basta citar esses aspectos do artigo de Romano, de quem jamais eu havia ouvido falar, para mostrar que, por ignorância e má-fé, conjugadas, ele deturpa e distorce o conteúdo da obra – Formação do Império Americano – apenas para atacá-la, em meio de insólitas insinuações e falsas afirmativas.
St. Leon, 02/01/2006
Prof. Dr. Luiz Alberto Moniz Bandeira
[1] Miller Bill & Eggen, Dan FBI – “Memo Author Did Not Envision Sept. 11”, The Washington Post, 23.05.2002.
Resposta a Roberto Romano
Resposta ao artigo “A formiga que marchava contra o império: uma fábula hegeliana", publicado na Edição 46, de dezembro de 2005, da Revista Primeira Leitura e no “Blog do Tambosi” em 10 de dezembro de 2005.
Roberto Romano, em seu artigo “A formiga que marchava contra o império: uma fábula hegeliana”, publicado em Primeira Leitura, Edição 46, dezembro de 2005, estabeleceu uma vinculação abusiva e capciosa, narrando fatos inverídicos e errôneos, de caráter ultrajante contra a minha pessoa e o meu trabalho, o que traz claras conseqüências jurídicas.Ao escrever que em Formação do Império Americano faço “denúncias” que, ‘sem exagero, atribuem ao governo norte-americano plena cumplicidade com o ataque de 11/setembro’” e que “essas histórias fantásticas recordam invenções como o Protocolo dos Sábios de Sião”, ele faz uma vinculação capciosa. O que Romano chama de “denúncias” sobre a cumplicidade (o adjetivo “plena” é da sua lavra) são acusações levantadas não por mim, mas por diversos autores norte-americanos, nos EUA, onde têm sido publicadas inúmeras obras sobre o assunto, sobre as quais me baseei e que Romano, na sua ignorância, desconhece. Quem quiser que consulte algumas dessas obras: Eric D. Williams. The Puzzle of 9-11 – An investigation into the events of September 11, 2001, and why the pieces don’t fit together; A Pretext for War : 9/11, Iraq, and the Abuse of America's Intelligence Agencies, de James Bamford; The 9/11 Commission Report: Omissions And Distortions, David Ray Griffin; 9/11 Revealed. The Unanswered Questions, de Rowland Morgan e Ian Henshall; Conspiracies, Conspiracy Theories and the Secrets of September 11, de Mathias Broecker, que vendeu mais de 100.000 exemplares nos Estados Unidos; Worse than Watergate. The Secret Presidency of George W. Bush, de John W. Dean, ex-assessor do presidente Richard Nixon¸ The New Pearl Harbor: Disturbing Questions About the Bush Administration and 9/11, do respeitado teólogo David Ray Griffin; Inside Job: Unmasking the Conspiracies of 9/11, de Jim Marrs; e Cover Up : What the Government Is Still Hiding About the War on Terror, de Peter Lance.
Essas são algumas de mais de uma dezena de obras sobre o assunto, publicadas nos Estados Unidos e na Inglaterra e nas quais os autores sustentam que os atentados de 11 de setembro de 2001 foram facilitados pela administração de George W. Bush para justificar a deflagração da guerra contra o terrorismo, a guerra permanente, e executar The Project for the New American Century. Isso nada tem a ver com o Protocolo dos Sábios do Sião, uma falsificação de caráter anti-semita, feita pela Okhrana, polícia secreta da Rússia tsarista, que culpa os Judeus pelos males do país, acusando uma cabala secreta judaica de conspirar para conquistar o mundo. No caso dos atentados de 11 de setembro, há apenas um informe de que o Mossad e o serviço de inteligência da França teriam advertido à CIA e ao FBI sobre a ameaça, e uma hipótese não confirmada sobre a possibilidade de que o Mossad teria ajudado para provocar uma onda de indignação contra os muçulmanos. Porém, o que há de concreto, comprovado pela National Commission on Terrorists Attacks Upon de United States, foi que, além de várias e outros fatos, inclusive o Projeto Bojinka descoberto em 1994, George W. Bush soube, através do top-secret Presidential Daily Brief memorandum, intitulado “Bin Laden Determined to Strike in U.S”, com a informação do agente Phoenix (Kenneth Williams[1]), dizendo que
“We have not been able to corroborate some of the more sensational threat reporting, such as that from a ... (redacted portion) ... service in 1998 saying that Bin Ladin wanted to hijack a US aircraft to gain the release of "Blind Shaykh" 'Umar 'Abd al-Rahman and other US-held extremists. Nevertheless, FBI information since that time indicates patterns of suspicious activity in this country consistent with preparations for hijackings or other types of attacks, including recent surveillance of federal buildings in New York .”
A conclusão de que os atentados de 11 de setembro poderiam ser evitados não é somente minha, mas de diversos autores americanos e ingleses. Roberto Romano, portanto, falseia, deliberadamente, o conteúdo da obra. Em outra passagem do seu artigo ele diz que cito Hitler “com indulgência”, num discurso contra “a ilimitada ditadura mundial norte-americana”. Segundo Romano, “encontra-se aí uma perigosa coincidência entre a tese central do livro em pauta e o discurso totalitário: os EUA querem impor uma ditadura sem limites ao mundo”. Romano omite deliberadamente que várias vezes demonstrei como Hitler manipulou o espectro do terrorismo, após o incêndio do Reichstag por um demente acusado de comunista e encorajado pelos próprios os nazistas, e que, ao final da obra eu advirto:
“A ameaça que se descortinava nos Estados Unidos consistia exatamente na implantação de uma ditadura, sustentada pelo complexo industrial-militar, mediante a contínua disseminação do medo, making fears, e a manipulação de permanente estado de guerra, a guerra sem fim contra o espectro do terrorismo, como rationale para crescente restrição das liberdades e dos direitos civis, dentro dos próprios marcos da Constituição, como começou a acontecer com o estabelecimento do USA Patriot Act. Foi assim que Hitler, a manipular, igualmente, o espectro do terrorismo, o incêndio do Reichstag, instituiu o III Reich, a mais cruel tirania, só comparável à de Stalin na Rússia, sem revogar sequer uma linha da Constituição de Weimar” (Formação do Império Americano, p. 795)
Não há nenhuma indulgência ao qualificar o III Reich como “a mais cruel tirania, só comparável à de Stalin na União Soviética”. O que não posso é falsificar a história, dizendo que Hitler queria a guerra com os Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos no conflito da Europa era exatamente o que ele temia, e por isso evitou tanto quanto pôde as provocações, porque sabia que a Alemanha seria derrotada. Mas se precipitou ao perceber a inevitabilidade do conflito. É um fato histórico.
Romano, entretanto, é indulgente com George W. Bush, procurando inocentá-lo, sem mencionar que, em 3 de junho de 1997, um grupo composto por Jeb Bush, governador da Flórida e irmão do presidente, então governador do Texas, Dick Cheney, Francis Fukuyama, o teórico do fim da história, I. Lewis Libby, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld e mais alguns neocons, vinculados ao American Enterprise Institute, Hudson Institute e outros think tanks, lançou o Project for the New American Century (PNAC). Seu programa consistia em aumentar os gastos com defesa, fortalecer os vínculos democráticos e desafiar os “regimes hostis aos interesses e valores” americanos, promover a “liberdade política” em todo o mundo, e aceitar para os Estados Unidos o papel exclusivo em “preservar e estender uma ordem internacional amigável (friendly) à nossa segurança, nossa prosperidade e nossos princípios”.
Com essa doutrina George W. Bush buscou derrubar um dos fundamentos do moderno Direito Internacional, segundo o qual o emprego da força só seria permitido em defesa própria, para enfrentar ameaças reais, não potenciais, mas não como ação preventiva e antecipada. E, ao “the war on terror will not be won on the defensive”, revelou sua intenção de mover uma guerra permanente, a fim de manter, ampliar e consolidar a hegemonia dos Estados Unidos, sobre todas as regiões, e impor a pax americana, encorajando “free and open societies on every continent”. E, sem qualquer ambigüidade, aduziu: “The requirements of freedom apply fully to Africa and Latin America and the entire Islamic world”. Os Estados Unidos decidiram assim derrogar unilateralmente os princípios da soberania nacional e da não-intervenção nos assuntos internos de outros países, acordados no Tratado de Westphalia, de 1648. E George W. Bush, com o objetivo de racionalizar as guerras, que pretendia desencadear, oficializou a doutrina dos “pre-emptive attacks”, em documento de 33 páginas – The National Security Strategy of the United States of América – divulgado em 17 de setembro de 2002. Não se trata, pois, de impor uma ditadura mundial?
Romano diz que assumo “o mais vulgar anti-americanismo” e omite que me refiro aos Estados Unidos como “uma sociedade extraordinariamente complexa, dinâmica e rica em contradições internas”, com “elevadíssimo desenvolvimento científico e tecnológico, do alto nível de suas universidades” e que “não se pode desconhecer o contributo da revolução na América – a guerra da independência das treze colônias (1776-1783) – à cultura democrática, que terminou por influir sobre a Revolução Francesa de 1789-1793 e que há nos Estados Unidos uma plêiade de brilhantes acadêmicos, intelectuais e jornalistas, que não se cansam de denunciar e criticar as mazelas da sociedade e da política interna e externa dos Estados Unidos. Eles têm escrito e publicado obras das mais lúcidas, criticando a política doméstica e a política exterior dos Estados Unidos, particularmente com respeito ao golpe de Estado no Irã (1953), à invasão da Guatemala (1954), e da Baía dos Porcos (Cuba, 1961), aos golpes militares no Brasil (1964) e no Chile (1973), à guerra no Vietnã etc.” (Formação do Império Americano, p. 25). Quem prefacia o livro é, inclusive, uma politóloga dos Estados Unidos, Jan K. Black, do Monterey Institute of International Studies, da Califórnia.
Basta citar esses aspectos do artigo de Romano, de quem jamais eu havia ouvido falar, para mostrar que, por ignorância e má-fé, conjugadas, ele deturpa e distorce o conteúdo da obra – Formação do Império Americano – apenas para atacá-la, em meio de insólitas insinuações e falsas afirmativas.
St. Leon, 02/01/2006
Prof. Dr. Luiz Alberto Moniz Bandeira
[1] Miller Bill & Eggen, Dan FBI – “Memo Author Did Not Envision Sept. 11”, The Washington Post, 23.05.2002.
Entrevista ao jornal A Tribuna
Transcrevo aqui entrevista que este escrevinhador deu ao jornal A Tribuna, de Criciúma (SC) - publicada na edição de 30/01/06 -, sobre a suposta virada à "esquerda" que estaria ocorrendo na América Latina.
Filósofo fala sobre direita e esquerda
Gladinston Silvestrini
da Redação
No período entre dezembro de 2005 e dezembro de 2006, mais de nove países latino-americanos escolhem seus presidentes pelo voto direto. Os primeiros deles foram Bolívia - onde venceu o líder indígena e cocaleiro Evo Morales - e o Chile, que elegeu a socialista moderada Michele Bachelet. Com Lula no Brasil e Hugo Chávez na Venezuela, analistas internacionais vêm dizendo que o continente vive uma fase "esquerdista". Para o filósofo e jornalista Orlando Tambosi, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), isso pouco corresponde à realidade. Ele dedicou parte dos últimos dez anos estudando o que, afinal de contas, deu errado no velho marxismo de sua geração, e sobre que sentido faz, no mundo contemporâneo, falar da distinção entre esquerda e direita. Sobre o assunto, ele publicou no Brasil o livro O declínio do marxismo e a herança hegeliana. (O livro foi traduzido na Itália pela maior editora do país, a Mondadori, e ganhou título bem mais direto: Perché il marxismo ha falitto, ou Porque o marxismo faliu). Na seguinte entrevista ele fala sobre esquerda e direita na América Latina, política no Brasil e sobre a lei de imprensa - seu blog, inaugurado há poucos meses, foi o primeiro do gênero a publicar um direito de resposta a pedido baseado na Lei de Imprensa, que Tambosi qualifica como "entulho autoritário".
A Tribuna - Entre dezembro de 2005 e dezembro de 2006, nada menos que nove países da América Latina terão eleições presidenciais. Já foram eleitos o indígena Evo Morales na Bolívia e a socialista Michele Bachelet no Chile. Com Hugo Chavez na Venezuela e Lula no Brasil, há analistas que dizem que o continente vive uma fase de esquerda. Faz sentido por todos esses presidentes no mesmo barco? Há algo em comum entre eles?
Orlando Tambosi - “A tendência do cocaleiro Evo Morales é encostar-se a Hugo Chávez, que é um personalista, autoritário, demagogo e virtual dono da Venezuela. Já faz algumas bravatas, como a nacionalização de algumas empresas (entre elas as da Petrobras), mas não creio que vá muito longe. A Bolívia vive em crise há décadas e é possível que Evo seja tragado na milésima crise. Michele Bachelet, por sua formação, nada tem em comum com os dois, nem em termos biográficos, nem em termos políticos. Tocará a economia chilena pragmaticamente, como fizeram seus antecessores, também socialistas, que não estatizaram nada e nem se meteram em estripulia, como Chávez.”A Tribuna - Nesta semana, lideranças populares disseram no Fórum Social Mundial que Lula prejudicou a esquerda mundial com o seu governo sendo classificado como uma guinada para a direita. Há algum sentido nessa afirmação?OT - “Que esquerda mundial é esta? Isto não passa de uma utopia. As esquerdas sempre foram divididas em termos nacionais, que dirá em termos globais! O Fórum representa movimentos de variada origem, de ecologistas a anti-globalistas, e jamais terá alguma unidade, a não ser no vago discurso anticapitalista. Em termos práticos, os encontros promovidos anualmente mostraram-se inócuos até agora. Basta lembrar o exemplo de Porto Alegre, onde se realizou o primeiro encontro (quando o PT ainda governava o Estado e a capital). O que restou? Discursos, manifestos etc. Quanto a Lula, não fez guinada nenhuma. Age como o sindicalista pragmático que sempre foi. Apenas prosseguiu - mais ortodoxamente, é verdade - a política econômica de FHC. No resto, o governo do PT apenas inovou numa coisa: a corrupção, que tornou sistêmica. O valerioduto que o diga.”
A Tribuna - Nas últimas eleições, ainda havia parcela do eleitorado que votou em Lula por ele ser de "esquerda". Nas reeleições do ano que vem, este será um argumento válido? Houve algo diferente nesse governo que possa qualificá-lo, de alguma forma, de ser mais à esquerda que FHC?
OT - “Se FHC era neoliberal, então Lula também é. Lula foi eleito para mudar, mas limitou-se a prosseguir a herança de FHC, apesar de chamá-la de maldita. Na verdade, ele e seu partido não tinham projeto algum. Como se diz - corretamente - tinham um projeto de poder, mas não de governo. Aparelharam o Estado e pretendiam ficar muito tempo no poder, inclusive comprando deputados no Congresso, praticando um fisiologismo pior que aquele que sempre condenaram no discurso.”
A Tribuna - Ao longo da história, o termo "esquerda", sempre foi uma noção fluida. Nestas eleições, como essa questão se coloca diante do eleitor brasileiro?
OT - “Você tocou num ponto importante: será que a distinção entre esquerda e direita sobrevive? Os italianos foram os primeiros a discutir isto, no início dos anos 90, depois do desmantelamento da União Soviética e da derrubada do Muro de Berlim. O filósofo Norberto Bobbio escreveu um livro sustentando que a díade (como ele chamava) não morreu. Esquerda e direita teriam uma posição diferente em relação à igualdade, sendo a primeira igualitária e a segunda, inigualitária. Este seria, segundo Bobbio, o critério de distinção entre uma posição e outra. A esquerda teria uma sensibilidade maior para a redução das desigualdades. Do lado oposto ao de Bobbio colocou-se outro filósofo, Lucio Colletti, para quem não tinha mais sentido falar-se em esquerda e direita depois do fim da União Soviética e da falência do chamado "socialismo real". Até então o que era "direita"? O liberalismo, a defesa da economia de mercado, a livre concorrência, a não invasão do Estado na economia. E o que era "esquerda"? A propriedade coletiva ou pública dos meios de produção, a nacionalização (estatização) das grandes empresas e dos bancos, a economia dominada, dirigida pelo Estado (lembre-se os famosos "planos qüinqüenais" da URSS). Hoje tendo a concordar mais com Colletti. Se a noção antes era vaga e fluida, como você mesmo diz, atualmente ela se tornou nebulosa. Alguém ainda chamará de "esquerda" a ditadura cubana, só porque mantém tudo sob rígido controle estatal? E alguém dirá que os Estados Unidos, com sua liberdade de mercado e seu capitalismo, simbolizam a "direita"? Considerando-se esses argumentos, como dizer que Lula estaria mais à esquerda do que FHC?”
A Tribuna - Você acha que, no atual momento da política brasileira, corremos o risco de dar de cara com um aventureiro, como foi Collor?
OT - “No Brasil, a luta deverá se dar entre Serra e Lula, conforme apontam as pesquisas. Serra estaria mais à direita que Lula? Claro que não, até pela biografia de ambos. Diria até que Serra - mantida a tal díade - está mais à esquerda que o sindicalista. Acho que não corremos o risco de ter um novo Collor. Os personagens do cenário estão aí, são conhecidos, e não parece haver nenhum terceiro correndo escondido. O que é preciso fazer, mais do que analisar as coisas nos velhos termos de esquerda e direita, é analisar os projetos dos candidatos, trocar promessas por propostas. E propostas calcadas em estudos científicos, não em catecismos ideológicos.”
A Tribuna - A crise do PT pode ter alguma origem na raiz marxista do partido? Criou-se o mito de que José Dirceu fez o que fez por ser "stalinista". Faz sentido?
OT - “Olha, o PT não tem nem nunca teve raiz marxista. Para dizer a verdade, acho que poucos petistas estudaram Marx a fundo, e o Dirceu, que você cita, não é um deles. O pobre Marx não pode ser responsabilizado pelo autoritarismo petista, pelo menos disto ele está livre. Dirceu tem uma personalidade autoritária e é um centralizador, o que faz lembrar as práticas stalinistas. Se pudesse, certamente seria um ditador como seu amigo Fidel Castro. Mas ainda bem que já estamos livres desse personagem, espero que por muito tempo.”
A Tribuna - Como foi inaugurar a aplicação da lei de imprensa para blogs?OT - “Publiquei em meu blog (http://otambosi.blogspot.com) uma resenha do professor e amigo Roberto Romano, da Unicamp, sobre o livro "Formação do império americano", de Moniz Bandeira, que foi publicada também na revista Primeira Leitura, de São Paulo. O autor do livro não gostou da resenha, achando-a injuriosa, e surpreendeu-me com uma representação, por meio de um escritório de advocacia com várias filiais internacionais, pedindo "direito de resposta" com base na Lei de Imprensa (o famoso entulho autoritário, de l967). Ouvi amigos ligados ao Direito e achei melhor publicar a resposta, coisa que, aliás, teria feito por um simples pedido do professor Moniz, contra quem nada tenho. A Primeira Leitura não publicou nem publicará (segundo artigo do diretor, Reinaldo Azevedo, no site da revista) a resposta, preferindo que Moniz vá até o fim, já que tomou esta "atitude truculenta" (palavras do Reinaldo). Veja bem, se é inédito o uso da vetusta Lei de Imprensa contra um blog, mais ainda é usá-la a pretexto de uma resenha. Resenha de livro é análise e crítica de idéias e argumentos, não ataque a pessoas. Trata-se de um conflito de idéias e interpretações, que nada tem a ver com a Lei de Imprensa. Acho o episódio lamentável, ainda mais por ter partido também de um professor. Moniz aposentou-se na UNB e hoje mora na Alemanha - foi certamente através do blog que tomou conhecimento do texto do Romano, já que a PL não disponibiliza o material da revista na internet, embora mantenha um site, com o mesmo nome, de atualização diária.”
Publicado: 30/1/2006
Filósofo fala sobre direita e esquerda
Gladinston Silvestrini
da Redação
No período entre dezembro de 2005 e dezembro de 2006, mais de nove países latino-americanos escolhem seus presidentes pelo voto direto. Os primeiros deles foram Bolívia - onde venceu o líder indígena e cocaleiro Evo Morales - e o Chile, que elegeu a socialista moderada Michele Bachelet. Com Lula no Brasil e Hugo Chávez na Venezuela, analistas internacionais vêm dizendo que o continente vive uma fase "esquerdista". Para o filósofo e jornalista Orlando Tambosi, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), isso pouco corresponde à realidade. Ele dedicou parte dos últimos dez anos estudando o que, afinal de contas, deu errado no velho marxismo de sua geração, e sobre que sentido faz, no mundo contemporâneo, falar da distinção entre esquerda e direita. Sobre o assunto, ele publicou no Brasil o livro O declínio do marxismo e a herança hegeliana. (O livro foi traduzido na Itália pela maior editora do país, a Mondadori, e ganhou título bem mais direto: Perché il marxismo ha falitto, ou Porque o marxismo faliu). Na seguinte entrevista ele fala sobre esquerda e direita na América Latina, política no Brasil e sobre a lei de imprensa - seu blog, inaugurado há poucos meses, foi o primeiro do gênero a publicar um direito de resposta a pedido baseado na Lei de Imprensa, que Tambosi qualifica como "entulho autoritário".
A Tribuna - Entre dezembro de 2005 e dezembro de 2006, nada menos que nove países da América Latina terão eleições presidenciais. Já foram eleitos o indígena Evo Morales na Bolívia e a socialista Michele Bachelet no Chile. Com Hugo Chavez na Venezuela e Lula no Brasil, há analistas que dizem que o continente vive uma fase de esquerda. Faz sentido por todos esses presidentes no mesmo barco? Há algo em comum entre eles?
Orlando Tambosi - “A tendência do cocaleiro Evo Morales é encostar-se a Hugo Chávez, que é um personalista, autoritário, demagogo e virtual dono da Venezuela. Já faz algumas bravatas, como a nacionalização de algumas empresas (entre elas as da Petrobras), mas não creio que vá muito longe. A Bolívia vive em crise há décadas e é possível que Evo seja tragado na milésima crise. Michele Bachelet, por sua formação, nada tem em comum com os dois, nem em termos biográficos, nem em termos políticos. Tocará a economia chilena pragmaticamente, como fizeram seus antecessores, também socialistas, que não estatizaram nada e nem se meteram em estripulia, como Chávez.”A Tribuna - Nesta semana, lideranças populares disseram no Fórum Social Mundial que Lula prejudicou a esquerda mundial com o seu governo sendo classificado como uma guinada para a direita. Há algum sentido nessa afirmação?OT - “Que esquerda mundial é esta? Isto não passa de uma utopia. As esquerdas sempre foram divididas em termos nacionais, que dirá em termos globais! O Fórum representa movimentos de variada origem, de ecologistas a anti-globalistas, e jamais terá alguma unidade, a não ser no vago discurso anticapitalista. Em termos práticos, os encontros promovidos anualmente mostraram-se inócuos até agora. Basta lembrar o exemplo de Porto Alegre, onde se realizou o primeiro encontro (quando o PT ainda governava o Estado e a capital). O que restou? Discursos, manifestos etc. Quanto a Lula, não fez guinada nenhuma. Age como o sindicalista pragmático que sempre foi. Apenas prosseguiu - mais ortodoxamente, é verdade - a política econômica de FHC. No resto, o governo do PT apenas inovou numa coisa: a corrupção, que tornou sistêmica. O valerioduto que o diga.”
A Tribuna - Nas últimas eleições, ainda havia parcela do eleitorado que votou em Lula por ele ser de "esquerda". Nas reeleições do ano que vem, este será um argumento válido? Houve algo diferente nesse governo que possa qualificá-lo, de alguma forma, de ser mais à esquerda que FHC?
OT - “Se FHC era neoliberal, então Lula também é. Lula foi eleito para mudar, mas limitou-se a prosseguir a herança de FHC, apesar de chamá-la de maldita. Na verdade, ele e seu partido não tinham projeto algum. Como se diz - corretamente - tinham um projeto de poder, mas não de governo. Aparelharam o Estado e pretendiam ficar muito tempo no poder, inclusive comprando deputados no Congresso, praticando um fisiologismo pior que aquele que sempre condenaram no discurso.”
A Tribuna - Ao longo da história, o termo "esquerda", sempre foi uma noção fluida. Nestas eleições, como essa questão se coloca diante do eleitor brasileiro?
OT - “Você tocou num ponto importante: será que a distinção entre esquerda e direita sobrevive? Os italianos foram os primeiros a discutir isto, no início dos anos 90, depois do desmantelamento da União Soviética e da derrubada do Muro de Berlim. O filósofo Norberto Bobbio escreveu um livro sustentando que a díade (como ele chamava) não morreu. Esquerda e direita teriam uma posição diferente em relação à igualdade, sendo a primeira igualitária e a segunda, inigualitária. Este seria, segundo Bobbio, o critério de distinção entre uma posição e outra. A esquerda teria uma sensibilidade maior para a redução das desigualdades. Do lado oposto ao de Bobbio colocou-se outro filósofo, Lucio Colletti, para quem não tinha mais sentido falar-se em esquerda e direita depois do fim da União Soviética e da falência do chamado "socialismo real". Até então o que era "direita"? O liberalismo, a defesa da economia de mercado, a livre concorrência, a não invasão do Estado na economia. E o que era "esquerda"? A propriedade coletiva ou pública dos meios de produção, a nacionalização (estatização) das grandes empresas e dos bancos, a economia dominada, dirigida pelo Estado (lembre-se os famosos "planos qüinqüenais" da URSS). Hoje tendo a concordar mais com Colletti. Se a noção antes era vaga e fluida, como você mesmo diz, atualmente ela se tornou nebulosa. Alguém ainda chamará de "esquerda" a ditadura cubana, só porque mantém tudo sob rígido controle estatal? E alguém dirá que os Estados Unidos, com sua liberdade de mercado e seu capitalismo, simbolizam a "direita"? Considerando-se esses argumentos, como dizer que Lula estaria mais à esquerda do que FHC?”
A Tribuna - Você acha que, no atual momento da política brasileira, corremos o risco de dar de cara com um aventureiro, como foi Collor?
OT - “No Brasil, a luta deverá se dar entre Serra e Lula, conforme apontam as pesquisas. Serra estaria mais à direita que Lula? Claro que não, até pela biografia de ambos. Diria até que Serra - mantida a tal díade - está mais à esquerda que o sindicalista. Acho que não corremos o risco de ter um novo Collor. Os personagens do cenário estão aí, são conhecidos, e não parece haver nenhum terceiro correndo escondido. O que é preciso fazer, mais do que analisar as coisas nos velhos termos de esquerda e direita, é analisar os projetos dos candidatos, trocar promessas por propostas. E propostas calcadas em estudos científicos, não em catecismos ideológicos.”
A Tribuna - A crise do PT pode ter alguma origem na raiz marxista do partido? Criou-se o mito de que José Dirceu fez o que fez por ser "stalinista". Faz sentido?
OT - “Olha, o PT não tem nem nunca teve raiz marxista. Para dizer a verdade, acho que poucos petistas estudaram Marx a fundo, e o Dirceu, que você cita, não é um deles. O pobre Marx não pode ser responsabilizado pelo autoritarismo petista, pelo menos disto ele está livre. Dirceu tem uma personalidade autoritária e é um centralizador, o que faz lembrar as práticas stalinistas. Se pudesse, certamente seria um ditador como seu amigo Fidel Castro. Mas ainda bem que já estamos livres desse personagem, espero que por muito tempo.”
A Tribuna - Como foi inaugurar a aplicação da lei de imprensa para blogs?OT - “Publiquei em meu blog (http://otambosi.blogspot.com) uma resenha do professor e amigo Roberto Romano, da Unicamp, sobre o livro "Formação do império americano", de Moniz Bandeira, que foi publicada também na revista Primeira Leitura, de São Paulo. O autor do livro não gostou da resenha, achando-a injuriosa, e surpreendeu-me com uma representação, por meio de um escritório de advocacia com várias filiais internacionais, pedindo "direito de resposta" com base na Lei de Imprensa (o famoso entulho autoritário, de l967). Ouvi amigos ligados ao Direito e achei melhor publicar a resposta, coisa que, aliás, teria feito por um simples pedido do professor Moniz, contra quem nada tenho. A Primeira Leitura não publicou nem publicará (segundo artigo do diretor, Reinaldo Azevedo, no site da revista) a resposta, preferindo que Moniz vá até o fim, já que tomou esta "atitude truculenta" (palavras do Reinaldo). Veja bem, se é inédito o uso da vetusta Lei de Imprensa contra um blog, mais ainda é usá-la a pretexto de uma resenha. Resenha de livro é análise e crítica de idéias e argumentos, não ataque a pessoas. Trata-se de um conflito de idéias e interpretações, que nada tem a ver com a Lei de Imprensa. Acho o episódio lamentável, ainda mais por ter partido também de um professor. Moniz aposentou-se na UNB e hoje mora na Alemanha - foi certamente através do blog que tomou conhecimento do texto do Romano, já que a PL não disponibiliza o material da revista na internet, embora mantenha um site, com o mesmo nome, de atualização diária.”
Publicado: 30/1/2006
15.4.06
La storia di Lucio Colletti. Um modello teorico di estremo interesse.

O artigo a seguir é uma crítica que o professor e filósofo italiano Costanzo Preve - sobretudo um intelectual generoso - fez ao meu livro Perché il marxismo ha fallito. Lucio Colletti e la storia de una grande illusione, publicado na Itália pela Mondadori, em 2001. Marxista e anti-capitalista, Preve discorda dos argumentos e conclusões do livro (e de Colletti), mas diz que ele "merece ser lido".
(O original em português tem por título O declínio do marxismo e a herança hegeliana. Lucio Colletti e o debate italiano (1945-1991), Florianópolis, Editora da UFSC, 1999).
Colletti (foto) faleceu no final de 2001. Em sua homenagem, escrevi "Marxismo e dialética: uma herança fatal", publicado no livro Marxismo e ciências humanas (vários autores), São Paulo, Xamã Editora/Fapesp/Cemarx, 2003. O volume reúne os textos apresentados no II Colóquio Marx-Engels, promovido pelo Cemarx (Unicamp) em Campinas, em novembro de 2001. De minha parte, foi uma despedida do tema, mais que do autor e amigo.
1. La recente pubblicazione in lingua italiana di un libro di grande interesse storico e teorico (cfr. Orlando Tambosi, "Perché il marxismo ha fallito. Lucio Colletti e la storia di una grande illusione", Mondadori, Milano 2001, £. 38.000) può essere l'occasione per tornare su di un insieme di problemi ancora aperti. Oggi può sembrare che l'arco di temi filosofici e scientifici posti negli anni cinquanta e sessanta da Galvano Della Volpe e Lucio Colletti sia ormai pura archeologia ideologica ed oggetto di tesi di laurea di storia delle idee minori. Ma non è così. Oggi il "silenziamento" sulla discussione del marxismo, italiano ed internazionale, non è un fatto spontaneo della società civile delle persone colte, ma è un fatto politico voluto dai centri di potere editoriale, giornalistico ed universitario. Lo stesso libro di Tambosi, con tutta probabilità, esce semplicemente perché la Mondadori ha una sua berlusconiana strategia editoriale anticomunista, dal libro nero del comunismo all'ultima demenziale sintesi sul Novecento di Robert Conquest (cfr. "Il secolo delle idee assassine", Mondadori, Milano 2001). In ogni caso il libro di Tambosi, edito con il rituale congedo dal comunismo del suo autore, alter ego di Lucio Colletti, merita di essere letto e merita anche qualche commento.
Per chiarezza espositiva, tenendo conto anche della tirannia dello spazio, proporrò al lettore tre ordini di commenti. In primo luogo, è necessario tornare brevemente su Galvano della Volpe, il maestro di Colletti, il cosiddetto dellavolpismo come galileismo morale anti-hegeliano e sulla natura del suo programma di ricerca.. Su questo punto, dirò esplicitamente la mia opinione, per non lasciarla faticosamente indovinare da rimandi impliciti e poco chiari. In secondo luogo, naturalmente, bisogna parlare esplicitamente di Lucio Colletti, ma per poterlo fare in modo chiaro bisogna separare a mio avviso tre distinti problemi, e non confonderli. Primo, occorre proporre un bilancio, sia pure telegrafico, sul Colletti "marxista", o più esattamente sulle caratteristiche originali della sua interpretazione di Marx.
Secondo, occorre mettere a fuoco bene il nucleo teorico del "congedo" di Colletti dal marxismo, il modo in cui fu argomentato e la sua pertinenza specifica, indipendentemente da ogni moralismo regressivo sul suo essere traditore o "rinnegato", come fu fatto negli anni Settanta in modo ideologico, ma anche improprio. Terzo, occorre richiamare l'attenzione sul quarto di secolo (1975-2000) del Colletti post-marxista e anti-marxista e sulla sua pittoresca sterilità, per cui di Colletti è proprio possibile dire quello che a suo tempo Krahl ha detto di Adorno, per cui "non ha saputo congedarsi dal proprio congedo".
In terzo luogo, per finire, è bene fare alcuni rilievi specifici al libro di Tambosi, ed in particolare alla sua replicazione clonata del congedo dal marxismo, dal comunismo e dall'anti-capitalismo. Questo congedo unificato, che per questo è un congedo fasullo, è il vero problema teorico del libro, su cui varrà la pena dire qualcosa.
2. Galvano Della Volpe (1895-1968) è stato uno dei più grandi filosofi marxisti italiani del Novecento. Questo mio giudizio non è certamente dovuto ad una mia vicinanza alle sue tesi, da cui sono invece lontanissimo, situandomi anzi alle sue antipodi. A mio avviso, infatti, il marxismo, nella misura e nei limiti in cui può essere correttamente definito una scienza, più esattamente una scienza sociale unitaria dei modi di produzione sociali, non è una scienza nel senso della rivoluzione scientifica moderna, di Copernico e di Galileo, di Newton e di Darwin, ma è una scienza filosofica nel senso originariamente dato a questo termine da Fichte nel lontano 1794. Questa mia ferma e meditata convinzione sta agli antipodi di Della Volpe e di Colletti. Mantengo però il mio giudizio su Della Volpe come uno dei massimi filosofi italiani del Novecento, perché un giudizio storiografico non deve essere mai un giudizio di affinità o di elezione personali, ma sempre e solo un giudizio di livello di un pensiero e di effetto storico da esso avuto.
Della Volpe, considerato da molti un campione dello anti-hegelismo, o anche un campione della tradizione Aristotele-Kant opposta a quella Platone-Hegel, fu in realtà storicamente un prodotto della reazione italiana non tanto a Hegel, quanto a Benedetto Croce ed al crocianesimo, in compagnia di pensatori diversi come Nicola Abbagnano e Norberto Bobbio. Da un punto di vista teorico, la sua critica globale alla dialettica, integralmente ripresa da Lucio Colletti che poi trasformò la stessa critica alla dialettica in una metafisica positivistica di combattimento, non presenta assolutamente alcuna originalità storica, perché si tratta della ripresa pura e semplice, quasi fotocopiata, della critica già rivolta a suo tempo a Hegel nel 1840 nelle "Ricerche Logiche" di Trendelenburg. E' ovviamente il contesto storico ad essere diverso, in quanto fra il 1840 e il 1950 c'è in mezzo Marx, il marxismo e il problema del rapporto fra Hegel e Marx, che è poi il tradizionale modo sbagliato di indicare in forma fuorviante un problema completamente diverso, quello del rapporto fra filosofia e scienza, o più esattamente fra presupposto filosofico e metodo scientifico, in tutta la dottrina marxiana e poi marxista nelle sue varie forme antagonistiche.
Della Volpe propose di sviluppare il marxismo come "galileismo morale". Con questa espressione, per essere più analitici, si intende una scienza sociale costruita secondo il modello seicentesco di Galileo e non secondo il modello della scienza filosofica dell'idealismo tedesco di Fichte e di Hegel, un modello che viene visto come la ripresa moderna del neoplatonismo mistico, quanto di peggio e di più contrario ci sia alla scienza moderna. In proposito, la posizione di Della Volpe non si configura soltanto come un anticrocianesimo integrale, ma come un rifiuto radicale (per me incomprensibile) di prendere anche solo in esame le osservazioni di Husserl sull'impossibilità di applicare direttamente al mondo umano e sociale i modelli quantitativi e sperimentali della scienza seicentesca della natura. Queste osservazioni si possono accettare o respingere, ma sono comunque pertinenti, e non ce se ne libera semplicemente ignorandole o mettendole nei calderoni dell'irrazionalismo, della new age e dei tarocchi (secondo un'abitudine che poi Colletti portò a livelli tragicomici). Per chiarezza verso il lettore, mi trovo costretto nel prossimo punto a dire telegraficamente perché mi sembra che il modello del "galileismo morale" non sia compatibile con il progetto di Marx.
3. Nel lontano 1794 Fichte stabilì metodologicamente la differenza di principio fra quella che chiamava "logica formale" e quella che invece propose di connotare come "dottrina della scienza". La logica, scienza dell'uso corretto delle categorie del pensiero, si basa sulla separazione metodologica fra forma e contenuto, mentre la dottrina della scienza, che è una scienza filosofica (a differenza della logica che non lo è), presuppone un rapporto organico fra un soggetto che progetta, agisce e modifica ed un oggetto naturale e/o sociale che ne viene agito e modificato. E' noto che Fichte connotò questa soggettività umana agente e progettante come Io e questa oggettività naturale e sociale come Non-Io, ma non è questo per noi il nocciolo della questione.
Ed il nocciolo sta invece in ciò, che quando nel 1845 Karl Marx scrisse che i filosofi avevano fino ad allora soltanto diversamente interpretato il mondo, e si trattava ora di trasformarlo, egli non lascia dubbio alcuno di voler riprendere, in una nuova intenzionalità anticapitalistica e comunista, il programma proposto nel 1794 di una dottrina della scienza filosofica basata sulla centrale categoria di prassi. Detto del tutto incidentalmente, è per questo che quando Antonio Gramsci connota il marxismo come "filosofia della prassi" ha perfettamente ragione, almeno dal punto di vista teorico e filologico. Altra cosa, che non c'entra assolutamente nulla con questo, e che anzi fa solo confusione, è se Gramsci fosse o no storicista, e se il marxismo sia o no uno storicismo, cosa che, sulla scorta della critica di Louis Althusser, io ovviamente non credo assolutamente. Ma qui non è di questo che si parla. Qui si sottolinea il fatto che sul piano concettuale la proposta di Della Volpe è confutata preventivamente dal Marx del 1845, che ribadisce la propria adesione, implicita ma anche filologicamente incontrovertibile, ad una concezione di scienza filosofica in senso fichtiano. Per il momento, come si vede, non è neppure necessario introdurre la variante Hegel, che possiamo lasciare ancora dormire tranquilla.
4. A fianco della (per me errata) connotazione del marxismo come scienza non filosofica e come galileismo morale c'è un secondo punto gravido di future confusioni in Della Volpe, e cioè l'equazione fra materialismo e metodo scientifico (si intende: galileiano-newtoniano-darwiniano). Questa equazione a mio avviso non tiene, lasciando perdere per brevità il fatto storico incontrovertibile che la genesi storica e teorica del metodo scientifico galileiano moderno è stata pitagorica, platonica, antiaristotelica ed antimaterialistica. Ma non insisto per carità di patria. Il materialismo non c'entra infatti quasi nulla con il metodo scientifico (più esattamente, con i metodi scientifici differenziati in varie scienze particolari, con protocolli distintivi ed incommensurabili), trattandosi di una concezione filosofica del mondo. Per fare solo un esempio, in contemporanea con Della Volpe ci fu Sebastiano Timpanaro, che propose una concezione leopardiana e naturalistica del materialismo (cui aderì poi in tarda età anche Cesare Luporini), e ci fu Ludovico Geymonat, che propose il materialismo come concezione del mondo dei progressisti e dei comunisti. Ma qui Della Volpe sconta la mancata distinzione di principio fra scienza, filosofia ed ideologia, o più esattamente fra sfera scientifica (con il suo oggetto ed il suo metodo) , sfera filosofica (con il suo oggetto ed il suo metodo) ed infine sfera ideologica (con il suo oggetto ed il suo metodo). Egli sottoponeva bensì a critiche le varie ideologie contemporanee che rifiutava, ma vedendole solo come errore, falsità ed ignoranza, non riusciva a cogliere nell'ideologia la forma normale di organizzazione classisticamente determinata del fisiologico rispecchiamento quotidiano del mondo. Eppure, tutto ciò si poteva capire anche allora. A modo suo Althusser lo capì, e questa è a mio avviso la ragione principale della vittoria schiacciante dell'althusserismo sul dellavolpismo nel campo dei marxismi anti-hegeliani nella seconda metà del Novecento. Ma lo capì ancora meglio il vecchio Lukács, che costruì la sua ontologia dell'essere sociale proprio a partire dal rispecchiamento quotidiano del mondo.
5. Nonostante le due critiche di principio ricordate precedentemente nei punti 3 e 4 riconfermo il mio giudizio storico (storico, non teorico) estremamente positivo su Della Volpe ed il primo dellavolpismo, almeno fino al 1968. E questo per molte ragioni, di cui qui per brevità ne ricorderò solo due. In primo luogo, la proposta dellavolpiana di concepire il metodo marxista come critica delle ipostasi (cioè delle fissazioni astoriche scambiate per storicità) e pensiero delle astrazioni determinate e non generiche (ad esempio non produzione, ma produzione capitalistica, non lavoro produttivo, ma lavoro produttivo capitalistico, eccetera) fu realmente eversiva, rispetto alla pappa pasticciona del generico storicismo progressistico del primo decennio del PCI togliattiano. In secondo luogo, è possibile sostenere (ed è infatti la mia personale opinione storiografica, di cui Raniero Panzieri è un chiaro esempio) che il dellavolpismo diede la forma, e l'operaismo diede poi il contenuto, della nuova sintesi teorica che la nuova sinistra elaborò negli anni Sessanta. Questa nuova sintesi non si contrappose a Palmiro Togliatti ed al togliattismo, che sono cose che con Antonio Gramsci ed il gramscismo non c'entrano proprio niente. In proposito, non essendoci lo spazio per argomentarlo, rimando il lettore alle pagine filosofiche di Gramsci contro il determinismo come religione delle masse subalterne, che è appunto la religione progressistica con cui le masse togliattiane furono modellate ed intrise in nome di uno storicismo il cui esito segreto (ma parzialmente prevedibile già allora) fu il buonismo cattivissimo di Veltroni ed il sorriso cinico di Massimo D'Alema durante la sua gestione della guera imperiale del Kosovo del 1999. Ma su questo stendiamo per pudore un velo pietoso.
6. I precedenti richiami ci permettono di affrontare il problema del primo Lucio Colletti, il Colletti dellavolpiano, il Colletti marxista, il Colletti originale. Su questo Colletti rimando anche ad una tesi originale sostenuta all'università di Roma nel 1999-2000 dalla giovane studiosa Cristina Corradi, che ricostruisce analiticamente l'intero itinerario filosofico di Lucio Colletti in modo documentato e plausibile. Qui mi limito per brevità a mettere a fuoco quello che resta a mio avviso il contributo maggiormente positivo e convincente del Colletti marxista, la sua vera e propria pars costruens, la messa in evidenza della centralità della nozione marxiana di "rapporti sociali di produzione". Non fosse che per questa sola cosuccia, Colletti meriterebbe già una menzione positiva.
Ricordo qui solo incidentalmente la pars destruens di Colletti, peraltro integralmente dellavolpiana, contro il romanzo cosmologico-positivistico denominato "materialismo dialettico" (Diamat), che con l'originario contributo teorico (a mio avviso non intenzionale e pertanto con responsabilità solo indiretta) di Engels prima e di Lenin poi, ma con l'integrale innocenza di Marx, Stalin impose agli apparati ideologici di partito ed ai sistemi scolastici di stato dell'intero comunismo storico novecentesco, e che durò fino al 1991, sintomo secondario ma interessante della totale irriformabilità del baraccone. Io condivido al 100% la critica distruttrice di Colletti, anche se non posso fare a meno di notare che l'epica battaglia fra Della Volpe e Colletti, da una parte, ed Engels e Lenin, dall'altra, è pur sempre una guerra civile fra polli dello stesso pollaio, fermamente uniti nel volere entrambi una fondazione puramente scientifica e non filosofica della dottrina del materialismo storico marxista, e nel connotare entrambi come "idealistica" (con uso semantico dispregiativo della parola) ogni concezione di autonomia della conoscenza filosofica distinta da quella scientifica. Ma trascuriamo pure questo punto, peraltro non marginale, anche se non essenziale nell'economia del mio bilancio critico.
Tornando alla centralità collettiana dei "rapporti sociali di produzione", è bene rilevare che nel contesto della congiuntura culturale di quegli anni (fine anni Sessanta - inizio anni Settanta) questa centralità era difesa anche dalla parallela scuola althusseriana e dai suoi esponenti italiani (Gianfranco Lagrassa eccetera), oltre che ovviamente dalla pratica politica della nuova sinistra dei gruppi, di cui abbiamo già ricordato precedentemente la genesi ad un tempo dellavolpiana ed operaistica. Colletti arriva a questo concetto attraverso la sua particolare strada, quella della critica alle ipostasi e della astrazione determinata, e quella dell'integrale autonomizzazione del materialismo storico, come scienza appunto della dinamica storica dei rapporti sociali di produzione, sia dallo scorrimento progressista del tempo dello storicismo sia dall'incorporazione nel romanzo cosmologico del materialismo dialettico. Fu questo, a mio avviso, che diede meritatamente (e sottolineo apposta questo avverbio) fama internazionale a Colletti. Si sentiva il bisogno di un marxista che ristabilisse il fondamento teorico del comunismo nei rapporti sociali di produzione. Fu questo che piacque, e che entusiasmò (e qui posso tranquillamente fare anche un riferimento personale, perché anch'io ne fui entusiasmato, e per un certo tempo fui anche un propagandista gratuito all'estero del pensiero di Colletti). Ed ecco che, improvvisamente, lo sperato teorico annunciato della centralità dei rapporti sociali di produzione diventava il teorico del congedo radicale da ogni tipo di marxismo. Questo passaggio dal dottor Jekill a mister Hide merita una riflessione.
7. Nel prossimo punto 8 ricorderò il nucleo centrale del rifiuto di Colletti del marxismo come scienza, la distinzione fra opposizioni reali come conflitti scientificamente determinabili e contraddizioni dialettiche come sviluppi di un impianto neoplatonico ed hegeliano, strutturalmente mistico, messianico e religioso. Ma per cogliere bene questo punto, bisogna fare un piccolo passo indietro, e ricordare la cosiddetta ipotesi Colletti-Napoleoni (che è in realtà farina pressoché integrale del sacco di Colletti), fatta all'inizio degli anni Settanta, e che resta uno dei punti alti della storia del marxismo italiano del Novecento. E' interessante che sia Lucio Colletti sia Claudio Napoleoni (purtroppo mancato nel 1988) siano entrambi nati nel 1924, ed abbiano per un breve periodo condiviso la stessa concezione, da cui poi trassero conclusioni opposte. In breve, si tratta dell'equazione fra la teoria (economica) del valore e la teoria (filosofica) dell'alienazione in Marx, o più esattamente del fatto che lo scambio delle merci in base al tempo di lavoro sociale incorporato in esse (con connesso plusvalore dovuto alla proprietà capitalistica delle condizioni della produzione) sia solo il riflesso di un mondo rovesciato, alienato, estraniato, a testa in giù. A distanza di trent'anni, io trovo ancora questa teoria molto intelligente, di un marxismo addirittura più che ortodosso. Ma questa equazione fra economia (dello sfruttamento) e filosofia (dell'alienazione) doveva portare Napoleoni ad una concezione a metà fra cattolicesimo messianico della redenzione ed heideggerismo destinale della tecnica, mentre appunto Colletti non poteva sopportarla, perché vedeva il (per lui) insopportabile presupposto filosofico inserirsi con prepotenza a falsificare logicamente ogni sogno di galileismo morale non dialettico e soprattutto no filosofico.
8. La scoperta dell'identità fra teoria del valore e teoria dell'alienazione fu per Colletti solo l'anticamera della liquidazione del marxismo come pseudoscienza basata sul presupposto di una contraddizione dialettica originaria miticamente derivata da un Intero che si rovescia e che si deve poi necessariamente ricomporre (nel comunismo). In proposito, non c'è qui assolutamente lo spazio per discutere adeguatamente della questione, e mi limiterò a tre sole osservazioni. In primo luogo, la scoperta del carattere mitico, e quindi insostenibile, del carattere metafisicamente originario della contraddizione fu in quegli anni patrimonio di molti pensatori, dallo Althusser giustamente critico dei miti delle Origini, del Soggetto e del Fine (critica su base spinoziana, essendo Spinoza un autore cruciale stranamente assente in Della Volpe e Colletti) al Lyotard critico delle grandi narrazioni teleologiche a base ideologica. Non mi soffermo ulteriormente su questo, perché personalmente condivido in modo pressoché integrale le impostazioni di Althussere di Lyotard, e considero i marxisti che non ne sono ancora venuti a conoscenza o che non le hanno ancora prese in considerazione come degli eremiti ignari che nel frattempo hanno scoperto la luce elettrica. Occorre qui ricordare, a bassa voce ma con forza, che la stupidità e la pigrizia non sono mai né interlocutori né argomenti.
In secondo luogo, bisogna ricordare che l'assimilazione fatta da Colletti del metodo dialettico di Marx e quello neoplatonico, con conseguente distacco antimetafisico inevitabile, non è assolutamente un dato scontato da registrare. Personalmente, non ne sono neppure convinto. In proposito, senza avere lo spazio per motivarlo, richiamo qui la corretta interpretazione di Enrico Berti, che invece considera pienamente compatibile il metodo marxiano con quello aristotelico (cfr. AAVV, "La contraddizione", Città Nuova, Roma 1977 e Enrico Berti, "Logica aristotelica e dialettica", Cappelli, Bologna 1983). In breve, il metodo di Marx non è una forma di neoplatonismo o di ricomposizione mistica finale di un Intero originario presupposto, anche se l'ideologia di salvezza del movimento operaio prima socialista e poi comunista lo ha così spesso sciaguratamente interpretato. E dunque Colletti non può liquidare e confutare Marx, ma soltanto l'orrenda ideologia teleologica di legittimazione dei suoi seguaci peggiori.
9. E veniamo ora alla terza osservazione, quella decisiva, che ci fa finalmente ritornare al libro di Tambosi. Tambosi fa credere, ed anzi sostiene apertamente, che una confutazione logica di una ideologia teleologica può essere, e legittimamente è, non solo la causa psicologica scatenante, ma anche la ragione strutturale di legittimazione dell'abbandono non solo del marxismo teorico e del comunismo politico, ma anche dell'anticapitalismo come modo di essere storico nel mondo. Tutto questo è assolutamente inaccettabile, anche perché è semplicemente inesatto.. Qui vi sono fenomeni distinti, che è del tutto assurdo mettere insieme. Ad esempio, il divorzio e la secessione dalla comunità culturale del "popolo di sinistra" o dei militanti comunisti di base è un processo storico-psicologico, non certo teorico-filosofico, e come tale deve essere trattato. Analogamente, il "non credere più nel comunismo", litania oggi molto ripetuta da ex-dogmatici persecutori del vecchio marxismo critico, non è un'affermazione dotata di statuto teorico, ma è solo un'irrilevante affermazione esistenziale di qualcuno che un tempo aveva una fede ed una religione, ed ora non ce l'ha più, ed è in preda al nichilismo ed alla morte di Dio. Marx non c'entrava niente prima, e non c'entra niente adesso. In quanto all'indispensabile decostruzione del nucleo metafisico del marxismo (operazione che personalmente conduco da almeno venti anni), so bene che questa decostruzione è odiata da dogmatici e fanatici di vario tipo, ma anche che essa è un presupposto fisiologico della ricostruzione di un punto di vista anticapitalistico aggiornato. Marx fu l'iniziatore della critica filosofico-scientifica al capitalismo, così come Colombo fu lo scopritore dell'America, che però pensava fosse soltanto l'India. Se però oggi chiamiamo l'America dal nome di Vespucci, è anche perché Vespucci affermò che si trattava di un continente nuovo. Ma nessuno penserebbe con questo che bisogna prima rinnegare Colombo.
Tambosi, questo alterego accademico brasiliano di Colletti, fa capire che una confutazione logica può legittimare integralmente l'abbandono di un punto di vista anticapitalistico. Ma l'abbandono dell'anticapitalismo non è una crisi epistemologica, ma è una sorta di riorientamento gestaltico totale dell'insieme dei punti di vista sociali ed antropologici, una sorta di deconversione olistica che mette in moto l'intera struttura psichica, emotiva e caratteriale, un vero e proprio terremoto esistenziale che modifica radicalmente l'intera percezione del senso della propria vita. Colletti ed il suo seguace carioca Tambosi non mi convinceranno mai che basta la confutazione matematica della trasformazione dei valori in prezzi di produzione o il chiarimento della distinzione fra opposizione reale e contraddizione dialettica per spiegare l'adesione esistenziale alla necessità dell'impero americano o alla guerra del Kosovo del 1999. Mi prendano pure per cretino, ma solo fino ad un certo punto.
10. Detto questo, consiglio egualmente il libro di Tambosi, che per gente della mia età è anche un tuffo nella giovinezza. Lucio Colletti continua ad essermi umanamente simpatico, berlusconiano o meno, perché ho un debole per le persone creative, originali ed intelligenti, che mi hanno fatto pensare, anche solo per respingerle. Ma non posso fare a meno di rilevare, in conclusione, che quest'uomo da almeno vent'anni è completamente sterile, e si limita a tuonare in favore della scienza e contro l'irrazionalismo, come se ci fossero qui i talebani e gli inquisitori a minacciare il rogo per Veronesi e la Levi Montalcini. Ma oggi la tecnoscienza si difende benissimo da sola, senza bisogno dell'aiuto di Colletti. Lo invito, pertanto, a non insistere nella tradizione italiana, per cui corriamo sempre in soccorso dello stanco vincitore. Oggi Bill Gates e Soros, ed anche Berlusconi, possono fare a meno di lui. Ma sono sicuro che lo sa già benissimo, e che quindi è inutile fargli ancora delle prediche.
(Fonte: Kelebek )
2.4.06
A ciência só sobrevive com divulgação

Este artigo é de autoria do escritor e jornalista italiano Franco Prattico, que redige artigos científicos para o jornal La Repubblica. Prattico já recebeu os prêmios Galilei, Axel Munthe e Glaxo para divulgação científica. Suas últimas obras incluem La cucina di Galileo (1994), La tribù di Caino (1995), Dal caos alla coscienza (1998) e Nel Corno d’Africa, 2001. O artigo aqui apresentado foi publicado originalmente na revista Telèma, 8, primavera de 1997. A versão em português está na revista Estudos em Jornalismo e Mídia, Florianópolis, vol. 2, nº 1, I semestre de 2005.[Na ilustr., "Prometeu Acorrentado", de Rubens (1577-1640)].
Por que se perdeu a maior parte do patrimônio científico helenístico? Até agora, as causas eram atribuídas às condições econômico-sociais do mundo antigo, mas estudos mais recentes dizem algo mais. Não bastam, para determinar o perfil de uma sociedade, as descobertas e inovações: é indispensável difundir as informações que as descrevem.
"Como seria o mundo, hoje, se a Roma imperial tivesse possuído os conhecimentos científicos e tecnológicos modernos? Se, por exemplo, tivesse podido dispor das fontes de energia, dos conhecimentos termodinâmicos, do domínio das leis do movimento e da mecânica, das competências técnicas que constituíram a base da revolução industrial dos séculos XVIII e XIV? Se tivesse podido, pelo menos em parte, opor às tribos bárbaras que pressionavam suas fronteiras - e que alguns séculos depois destruiriam seu sistema de poder – as tecnologias militares e civis que hoje estão em posse de qualquer Estado de média importância?
Sabe-se que a história não é feita na condicional, mas a pergunta é menos gratuita do que possa parecer à primeira vista. O livro do matemático romano Lúcio Russo, professor de cálculo de probabilidades na Universidade de Roma e apaixonado estudioso de história da ciência, publicado recentemente (1), abriu um debate que envolve historiadores, filósofos, cientistas e matemáticos, jogando sobre a mesa um argumento intrigante, para dizer o mínimo. Sustenta o autor que, na época que genericamente chamamos de “Antiguidade”, e em particular no mundo helenístico surgido depois da morte de Alexandre Magno, amadureceu uma verdadeira revolução científica, e até mesmo tecnológica, que nada tem a invejar da revolução de Galileu e Newton, na qual se enraíza a cultura científica moderna. Ao contrário, aquela revolução “esquecida” foi, em certo sentido, “copiada” por aqueles que são considerados os pais fundadores da ciência moderna.
O ponto de partida é o final do quarto século antes de Cristo. Com a morte de Alexandre, exatamente 312 a. C., seu imenso império se dissolveu, dividido entre seus generais, originando na Ásia Menor e no Egito uma série de estados e dinastias (como a dos Ptolomeus, no Egito) cultas e modernas, em torno dos quais se aglutinou o melhor da diáspora intelectual grega: soldados, literatos e governantes, mas também filósofos, matemáticos e geômetras. No centro desse mundo resplandecia Alexandria, capital do reino dos Ptolomeus, uma espécie de Nova York da época: transbordante de população, de indústrias, de comércio, além de sede da mais célebre biblioteca da antiguidade, que hospedava mais de um milhão de volumes em papiro e pergaminho. Numerosos reinos e cidades-estado helenísticas eram, já no terceiro século a. C., florescentes centros de cultura, bastando citar Siracusa, Rodes, Pérgamo, Samos, a própria Atenas, Marselha, Antioquia, Corinto, as antigas cidades mesopotâmicas e sicilianas.
Os estereótipos culturais que nos foram transmitidos desde as aulas colegiais favoreceram a difusão, pelo menos entre os não especialistas no tema, de uma imagem da civilização helenística como subproduto da grande cultura da Grécia clássica, uma cultura “menor” e decadente, fruto da mestiçagem com as culturas autóctones da Ásia Menor e da África, que seria reforçada apenas com a injeção do vigoroso, apesar de ainda inculto, sangue romano (um estereótipo que provavelmente tem suas raízes na grosseira exaltação da “romanidade” no período fascista). E negligencia-se por completo o extraordinário desenvolvimento que, justamente naquela época, por obra dos herdeiros e continuadores da filosofia natural grega, haviam alcançado as matemáticas, a experimentação física e médica, as tecnologias produtivas. Aristarco de Samos, naqueles séculos, descobria e teorizava o sistema heliocêntrico, antecipando Copérnico em quase dois milênios; Euclides, com seus Elementos, sistematizava de uma vez por todas a geometria clássica, única até a descoberta, no século XVIII, das geometrias definidas, precisamente, “não-euclidianas”; e Herófilo da Calcedônia lançava as bases da fisiologia e da anatomia modernas - para não falar da imensa contribuição de Arquimedes não só à matemática, mas também às ciências físicas e às tecnologias. Na mesma época, Eratóstenes media o meridiano terrestre, e inovações técnicas verdadeiramente extraordinárias eram realizadas no campo da engenharia, dos autômatos, da ótica e da medicina.
Em suma, houve um florescimento científico e tecnológico sem precedentes, que não teria seqüência até a época que se inicia com o século XVI, fruto do casamento da lógica e da racionalidade grega com o imenso patrimônio empírico crescido, durante séculos, no Egito e na Mesopotâmia, e talvez ainda com o aporte dos conhecimentos “exportados” pela Índia durante a empreitada de Alexandre. Desse casamento derivaria o fruto mais precioso da cultura helenística: a construção de um método axiomático dedutivo, fundamentalmente matemático, em condição de construir teorias abstratas e munido de uma série de normas de correlação entre os entes da teoria e os fenômenos do mundo real. Na prática, o método que é, hoje, um dos fundamentos das disciplinas atuais.
A culpa de Roma
O ocaso e a desaparição dessa cultura e de seus resultados foi determinado, como sustenta Russo, exatamente pela progressiva conquista romana dos reinos helenísticos, que culminou em 30 a. C. com a ocupação do Egito. Roma era àquela época uma grande potência militar, mas tinha uma pobre presença cultural; ao seu expansionismo não correspondia um nível intelectual e científico capaz de poder compreender e assimilar os produtos de uma cultura tão ampla e profunda.
O início do fim é assinalado pelo assassinato, por um soldado romano, de Arquimedes, o maior gênio científico da antiguidade, durante a conquista de Siracusa por parte do cônsul Marcelo. À medida que avançava, Roma varria, provavelmente de modo involuntário, as estruturas culturais onde medrava essa produção intelectual. Corinto, em 146 a. C., é conquistada e jogada ao solo: as obras de arte são levadas para Roma, mas as estruturas de estudo e de pesquisa, das bibliotecas às escolas, são reduzidas a ruínas. Conquistado com a ajuda dos romanos, dos quais era aliado o trono do Egito, Ptolomeu VIII Evergeta desencadeia feroz repressão contra os intelectuais de origem grega que gravitavam em torno da célebre biblioteca e que representavam um ponto de referência para todo o mundo helenístico, obrigando ao exílio grande parte dos sobreviventes. No arco de três séculos, desse Renascimento científico restariam alguns traços apenas em aplicações técnicas menores, como as relativas à realização de jogos e “máquinas maravilhosas”. A própria essência dessa revolução intelectual foi suprimida e seus conteúdos seriam esquecidos por mais de um milênio - o que foi salvo se deve ao precioso trabalho dos estudiosos árabes da Idade Média.
No entanto, ressaltou-se nos debates que se seguiram à publicação do livro de Russo, muito rapidamente Roma e suas classes dirigentes assimilaram depois a arte e a cultura gregas. Basta citar Horácio (“A Grécia, conquistada, conquistou os toscos vencedores e introduziu as artes no Lácio camponês...”), o esplêndido poema científico de Lucrécio, o escritos de Plínio, o Velho e de outros escritores latinos. Arte e literatura helenísticas, portanto, tiveram curso no império romano até às invasões bárbaras e, transcorridos os obscuros séculos medievais, foram recuperadas. Mas, com algumas ilustres exceções (em primeiro lugar, Euclides), bem pouco do patrimônio científico deixado pelos cientistas helenísticos despertou a atenção do mundo ocidental, e grande parte de sua obra foi irremediavelmente perdida. A “revolução científica” do século XVI, por isso mesmo, deveria ser atribuída em grande medida à redescoberta, por parte de Galilei, Newton, Descartes etc., do pensamento e das obras dos grandes matemáticos, físicos e fisiólogos dos três séculos que antecederam o Cristianismo.
Por que razão, todavia, esse gigantesco patrimônio intelectual, intensamente “moderno”, foi assim tão rapidamente esquecido, quando poderia ter transformado radicalmente o mundo antigo e, posteriormente, consolidado a hegemonia romana? A resposta “clássica” é que não existiam, àquela época, as bases sociais para um mundo fundado, como o nosso, no empreendimento científico e nas tecnologias de transferência dos conhecimentos fundamentais em tecnologia e indústria, como ocorreria, por outro lado, no início da era moderna. A sociedade antiga enraizava sua economia e a sua própria estrutura no escravismo, não no trabalho assalariado e na reprodução ampliada de mercadorias. Em Alexandria, em Pérgamo, em qualquer outro centro asiático existiam indústrias e um mercado, por assim dizer, “capitalista”, destinados, porém, a fenecer rapidamente em um mundo cujo esteio era constituído de outros tipos de relações de propriedade e de modalidades de acumulação - e muito menos poderia desenvolver-se na sociedade feudal subseqüente, fundada nas relações de dependência pessoal.
Talvez esta não seja uma resposta que exaure o problema. Os conhecimentos técnicos e científicos produzidos pela sociedade helenística poderiam, pelo menos em parte, ter sido recebidos e utilizados mesmo no contexto do mundo assim chamado greco-romano. Na realidade, porém, a pré-condição para que a inovação (científica e tecnológica) possa estender-se e determinar a organização da sociedade é a sua circulação. As idéias, as tecnologias, o método, os próprios resultados podem fecundar uma sociedade e traduzir-se em maneiras de organizar a vida social (e possivelmente a produção de mercadorias) desde que a informação circule livremente e possa confrontar-se com as diferentes realidades.
Obviamente, quer por motivos técnicos, quer por motivos culturais e sociais, isto não era possível no mundo antigo: as obras científicas e literárias eram exaustivamente transcritas nos “volumes” de papiro ou de pergaminho (fonte, este, de importante indústria em Pérgamo), e a reprodução em série só se tornaria possível com a invenção da imprensa e dos tipos móveis por Guttenberg, no final do século XIV. Eram, portanto, um bem precioso e raro, privilégio das classes dirigentes, quase exclusivamente alfabetizadas (junto com seus escravos gregos ou egípcios e asiáticos) e interessadas, como é provável, mais na literatura e na arte do que na cansativa leitura dos textos científicos ou técnicos. Os refinamentos matemáticos e científicos dos autores alexandrinos, portanto, atingiam somente um círculo restrito, em geral especializado, e isto explica por que razão, à diferença de obras literárias até mesmo medíocres, bem pouco nos chegou diretamente daquele patrimônio.
Para que os conhecimentos começassem a circular e entrar, por assim dizer, no sangue de uma sociedade, foi necessário esperar não só a invenção de Guttenberg, mas também, e talvez principalmente, o Iluminismo. Vale dizer: o nascimento da sociedade “informada”. Em 1747, Diderot e D’Alembert publicam a Encyclopédie: pela primeira vez uma série de conhecimentos filosóficos, científicos e técnicos “entra em circulação”, tornando-se patrimônio comum de estratos cada vez mais amplos da sociedade. Mais ainda que a imprensa e a máquina a vapor (patenteada por Watt em 1763), a Encyclopédie torna patrimônio comum e põe em circulação o patrimônio de conhecimentos elaborados por cientistas, artesãos, técnicos e pequeníssimos industriais.
É a conjugação de conhecimentos diferentes, provenientes de diversos campos de saber, que determina a explosão da sociedade industrial (2). Não é tanto a descoberta, a inovação em si (eis, talvez, a principal lição da “esquecida revolução” helenística), que determina a face da sociedade, mas a possibilidade e a velocidade com que essas informações circulam. Não por acaso, o desenvolvimento da moderna sociedade industrial corresponde a uma progressiva aceleração da circulação de informações (não isentas, por sua vez, de perigos e contra-indicações).
E as informações tendem a autofecundar-se, a interagir, produzindo novas avalanches informativas. Hoje vivemos no limiar de uma época dominada de maneira quase obsessiva pela informação, em uma sociedade que se prepara para conexão total, para a transferência em tempo real de qualquer produto factual ou intelectual. Com o risco de que a própria informação, inflacionada, se transforme em ruído e perca significado, repetindo assim, em situação invertida, a crise que determinou a ocultação milenar da “revolução esquecida”. (Tradução livre: Orlando Tambosi).
1. L. Russo, La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna. Milão, Feltrinelli, 1996.
2. Ver A. Caracciolo e R. Morelli, La cattura dell’energia: l’economia europea dalla protostoria al mondo moderno, Florença, La Nuova Itália, p. 103 e segs.
Assinar:
Comentários (Atom)